Final da crise significa muitos pedidos de demissão (Claudio Garcia)

Com o avanço da vacinação e queda no número de mortes por covid, em vários países empresas começaram a discutir a volta ao escritório e a continuidade do trabalho remoto. Mas muitas foram pegas de surpresa com outra questão: a quantidade enorme de profissionais pedindo demissão. Apenas nos Estados Unidos, cerca de 7,5 milhões de pessoas pediram para sair de seus empregos em abril e maio últimos, um recorde histórico. Esse efeito, que está sendo chamado de “A Grande Resignação”, tem sido observado principalmente em países que estão retornando a uma vida mais “normal’. A tendência parece ser o resultado da combinação de um boom de ofertas de emprego com uma grande quantidade de profissionais com gana, ansiosos por um novo trabalho. Essa realidade ainda deverá afetar muitos outros países. Segundo uma pesquisa da Microsoft, cerca de 41% dos profissionais de várias nações pretendem deixar seu trabalho atual em até um ano, número que dobrou nos últimos doze meses. Para empresas, esse ‘êxodo’ significa projetos atrasados, perda de conhecimento, maiores custos com recrutamento e perda de oportunidades de crescimento. Apesar desse aumento repentino nos pedidos de demissão, isso realidade não deveria surpreender. Não é novidade que a retenção de pessoas é maior durante recessões – quando não há tanta oferta e os profissionais ficam mais conversadores, com medo de perder sua renda – e menor quando economias estão se recuperando. Não é possível afirmar que a troca de emprego pode ser creditada à discussão sobre formato de trabalho (remoto, híbrido ou presencial) como muito tem sido alardado em redes sociais e mídia especializada. Óbvio que a experiência com o trabalho remoto impactou a forma como as pessoas lidam com o trabalho e várias delas adotaram a flexibilidade como uma variável importante. Mas indivíduos gostam de mudar por muitos motivos: progressão de carreira, incompatibilidade com culturas e líderes, salários e benefícios mais atrativos ou para experimentar algo novo. Muitos desses desejos ficam represados quando existem menos possibilidades – e explodem quando as oportunidades vêm. Nada que seja desconhecido e que não possa ser mitigado. Se essa realidade ainda não está acontecendo no Brasil é porque não saímos da crise. E poderá ser ainda mais intensa. Primeiro porque nossa crise começou bem antes – nossas taxas de desemprego estão nos dois dígitos há quase seis anos. Segundo porque existem vários problemas estruturais na educação da população, as capacidades disponíveis são limitadas e disputadas – muitos devem lembrar dos salários inflacionados durante o último boom econômico do país no início da década passada, já que recrutar significava tirar de outra empresa pagando mais. E terceiro, o Brasil é um país sem uma política orientada a talentos estrangeiros, o que tem sido essencial para várias nações suprirem suas deficiências de competências, principalmente em áreas de alta https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg. A China recentemente lançou um programa de incentivos, elogiado por críticos, para atrair talentos estrangeiros – e os resultados iniciais estão sendo promissores. A grande resignação é um sinal positivo de que economias estão se recuperando. Mas momentos como esse expõem as fragilidades das culturas, lideranças e processos de gestão de pessoas de organizações – que ainda têm a oportunidade de reagir. Porém, também expõem as fragilidades da estratégia para talentos de uma nação, que precisa muito mais que boa vontade para se transformar. Não à toa, mesmo em bons momentos econômicos globais, o Brasil constantemente cresce abaixo da média do resto do mundo. Algo para ficar atento. Claudio Garcia é professor adjunto de gestão global na Universidade de Nova York VALOR ECONÔMICO
RH precisa mudar para apoiar o novo design das organizações

Desde o início da pandemia, a área de recursos humanos ganhou os holofotes ao protagonizar ações heróicas e de grande complexidade. Colocou um contingente enorme de pessoas em home office, definiu rapidamente novas políticas e precisou lidar com questões delicadas, relacionadas à saúde física e emocional dos funcionários. Um ano e meio depois, fica a dúvida se as mudanças circunstanciais serão incorporadas e se o RH está preparado para gerenciar o redesenho das grandes companhias no país. “As estruturas das áreas de capital humano ainda seguem um modelo muito antigo”, afirma Daniel Motta, do BMI Blue Management Institute. A consultoria conduziu a pesquisa “Design Entrevista: é hora de parar de pensar a gestão de pessoas como recursos humanos· Mastery” à qual o Valor teve acesso, que ouviu vice-presidentes ou principais executivos (CHRO) da área de gestão de pessoas de 110 companhias no Brasil, de diferentes setores. Sendo 77,8% com faturamento entre R$ 1 bi e R$ 50 bi. Antes o design organizacional, que envolve governança e estrutura, segundo Motta, era mais voltado para a estabilidade e para o controle de produtividade. Os novos modelos requerem colaboração em ecossistemas mais abertos e velozes. As empresas cujos negócios ficaram mais complexos, como em varejo e serviços, precisam de um desenho mais orgânico e maleável. A pandemia mostrou essa necessidade. “Isso significa ter menos burocracia, controle, um crescimento mais horizontal, o ‘empowerment’ das diferentes células da organização”, diz Motta. Também será mais necessária a conexão com parceiros, fornecedores e clientes. “A companhia não consegue resolver tudo sozinha.” Como o RH vai encaminhar essas transformações é um ponto importante na estratégia. “Ele vai ter que fazer funcionar do ponto de vista do ‘change management’ e da gestão das relações políticas na organização”. Para isso, vai precisar estar no centro do poder da companhia. Segundo a pesquisa, 95% dos CHROs já se reportam diretamente aos CEOs e ao comitê executivo. Mas, para Motta, ainda falta à área ter uma estrutura mais moderna. No levantamento, 86% disseram que suas áreas possuem uma estrutura básica, com ‘business partners’, que atuam junto às diferentes áreas da empresa, e um conjunto de especialistas em tópicos como remuneração e gestão de talentos. Todos se reportando ao head de RH. “As grandes decisões sobre as políticas da área vêm dele”. Um modelo mais contemporâneo, segundo Motta, não contemplaria um RH centralizado. Diferentemente dos ‘business partners’, cada representante alocado nas diversas células de trabalho teria autonomia para definir políticas de acordo com desafios e realidades específicas de cada área. Na pesquisa, um terço dos pesquisados disseram que suas empresas usam o número de funcionários para dimensionar o tamanho de suas equipes, partindo da premissa de que mais empregados vão demandar maior monitoramento. “Em um desenho moderno, esse tamanho seria definido pelo quanto a organização precisa ser ágil e não por métricas quantitativas”, diz. Transformações na área de gestão de pessoas, no entanto, envolvem um alto nível de automação de processos, o que aparece em apenas 11% das empresas pesquisadas. Para 36%, entre 50% e 70% dos processos e requisições, são realizados manualmente ou individualmente. “Isso significa papelada, perda de informação, sistemas redundantes.” Entre os principais desafios citados pelos CHROs estão a transformação digital (52%), os modelos de trabalho e gestão (23%) e o desenvolvimento de competências (19%). Eles reportam que o chamado upskilling, ou o aprimoramento de habilidades, tem sido direcionado principalmente para a alta liderança e média gerência, depois vêm os especialistas, a força de vendas, o administrativo e por último o operacional. Para 62%, o upskilling mais crítico é o digital, e 32 % apontam soft skills, ou habilidades comportamentais. A maior barreira para 29% dos gestores é a falta de clareza do que precisa ser desenvolvido prioritariamente, para 19% são os recursos financeiros e 15% citam a aplicabilidade. “O desafio de desenhar o upskilling é essa falta de clareza porque ninguém sabe o que vai ser importante”. VALOR ECONÔMICO
Linhas emergenciais e desvalorização do câmbio aumentam o endividamento das empresas

O aumento do endividamento das empresas leva em conta uma enxurrada de recursos disponíveis – com linhas emergenciais criadas pelo governo para o enfrentamento da covid-19 e também o momento favorável no mercado de capitais – e o efeito da desvalorização cambial. As companhias conseguiram captar R$ 420,5 bilhões em 12 meses até março, uma alta de 28,3% na comparação com o acumulado de 2020. Desse total, mais de três quartos foram na forma de dívida, o que fez com que o endividamento subisse para 61,7% do PIB, patamar recorde. Os dados são de levantamento feito pelo Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fipe (Cemec-Fipe). “Esse dinheiro veio da captação de recursos com custo financeiro baixo e boas condições de renegociação, graças a programas emergenciais de crédito lançados pelo governo com os bancos na crise”, diz o coordenador do Cemec-Fipe, Carlos Antonio Rocca. De acordo com ele, as empresas pegaram muito dinheiro via crédito bancário ao longo do ano passado para cobrir necessidades imediatas de caixa, mas também aproveitaram para fazer uma poupança diante das incertezas da pandemia. “Mais uma vez, o impacto da crise foi muito diferenciado. Mais de 100 mil empresas fecharam, enquanto outras conseguiram atravessar a crise com grande disponibilidade de recursos.” Pequenas e médias empresas foram as que mais recorreram ao crédito das linhas emergenciais do governo, segundo o levantamento. Do total de R$ 272 bilhões de crédito bancário contratado em 12 meses até março, 72% ficaram com as companhias de menor porte. Entre as linhas que foram oferecidas como ajuda no combate aos efeitos econômicos da pandemia, estão o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), do BNDES, e o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), que foi renovado para este ano, após pressão dos setores, mas com condições menos vantajosas. Rocca explica, no entanto, que o principal fator responsável pelo salto no endividamento foi a desvalorização do real em relação ao dólar. Quando considerado em reais, o valor dos empréstimos intercompanhia no mercado internacional passou de 13,6% do PIB, ao fim de 2019, para 18,9% do PIB em março deste ano. A taxa de câmbio, que era de cerca de R$ 4 em dezembro de 2019, chegou a bater na casa de R$ 5,70 no fim de março de 2021. “Essa dívida em dólares pouco variou, quase nada, o grande degrau foi a taxa de câmbio. Mas não se trata de um grande problema, já que os empréstimos intercompanhia com matrizes ou subsidiárias no exterior têm flexibilidades e condições de pagamentos melhores do que as de um crédito bancário ou de uma colocação de títulos no exterior.” O ESTADO DE S. PAULO
Rodrigo Pacheco colocou para andar PEC que faz reforma tributária mais ampla

Para quem duvidou, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), avisou que vai colocar a proposta de reforma do Imposto de Renda (IR) em votação na semana que vem. Ele diz que já tem os votos para aprovar. Lira se reúne hoje com o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, para afastar a resistência dos prefeitos ao relatório preliminar do projeto, que reduz a arrecadação dos Estados e dos municípios em pelo menos R$ 27,4 bilhões. Ziulkoski está com sangue nos olhos e promete divulgar uma planilha com a perda de arrecadação de cada um dos 5.570 municípios. Um barulho que o presidente da Câmara quer evitar para não atrapalhar a votação. Negociações paralelas ao projeto estão na mesa como a votação da PEC que aumenta o repasse de verbas federais para os prefeitos via FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A PEC aumenta em 1% o repasse do FPM, e o texto já foi aprovado no Senado em dois turnos e em primeiro turno pelos deputados. As costuras finais para a votação do projeto do IR contam também com o desfecho de uma reunião do relator com os secretários de Fazenda dos Estados, também marcada para hoje. Sabino promete apresentar uma solução para evitar perdas aos governadores. Os secretários de Fazenda já anteciparam que não aceitam uma “fórmula mágica” de um mecanismo de seguro nos moldes da Lei Kandir, que desonerou o ICMS das exportações e gerou um contencioso de décadas do governo federal com os Estados em torno de compensações pelas perdas na arrecadação. O combinado dos secretários foi ouvir a proposta do relator para levar a avaliação técnica ao fórum de governadores. Sabino disse à coluna que se trata da inclusão no texto de uma garantia de que não haverá perdas de arrecadação. As duas reuniões vão servir de termômetro para o clima da votação. Outros ajustes foram feitos como a isenção integral de lucros e dividendos para as empresas do Simples, além da elevação do limite da faixa de isenção de R$ 20 mil para R$ 25 mil para empresas. Uma cartada final na busca de apoio. Sabino diz que não abre mão do fim da isenção do auxílio-moradia e do auxílio-transporte dos agentes públicos que têm renda acima da média, o que segundo ele será um importante sinal do que chama de “espírito reformista” do Congresso. As resistências ao projeto diminuíram depois que Guedes abriu o cofre do governo e acertou uma redução agressiva da alíquota do imposto das empresas. Proposta que é vista como um risco fiscal importante para as contas públicas. Os maiores críticos ao projeto apostaram as fichas num movimento de pressão para interditar a votação e engavetar a proposta. Mas muitos empresários assinaram os manifestos contra a reforma para depois conseguir melhorar a proposta com mudanças a seu favor. Quem entendeu isso está conseguindo o que quer. Lira acelerou a votação porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), colocou para andar a PEC que faz uma reforma mais ampla para a modernização da tributação sobre consumo, criando o Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC, relatada pelo senador Roberto Rocha, agrada a muitos, inclusive Estados, porque retoma a ideia de um imposto dual: o IBS para Estados e municípios e a CBS para o governo federal, unindo PIS e Cofins. O parecer de Rocha tem recebido apoio técnico de consultores do Senado, do Ministério da Economia e de dois tributaristas de fora do governo, Eduardo Fleury e Melina Rocha. O texto é visto como um passo importante para se fazer uma reforma com R maiúsculo, e não um pacote tributário. Guedes tem sido assertivo nas negociações da PEC porque precisa do Senado para aprovar os projetos do IR e da CBS que estão na Câmara. Pacheco, que ficou apagado pela CPI da Covid, quer recuperar protagonismo e tem também compromisso com seus apoiadores em garantir a aprovação do Refis. Já Lira, que saiu na frente da fila da reforma tributária, não quer ficar para trás. *REPÓRTER ESPECIAL DE ECONOMIA EM BRASÍLIA O ESTADO DE S. PAULO
IGP-M chega a 0,78% em julho e acumula alta de 33,83% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), normalmente usado para corrigir contratos de aluguel de imóveis, acelerou a 0,78% em julho depois de ter ficado em 0,60% em junho, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da maioria das estimativas de analistas do mercado ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,90%. Apesar da aceleração, o IGP-M acumulado em 12 meses desacelerou de 35,75% para 33,83%, a segunda redução consecutiva nessa base de comparação. Em 2021, o índice acumula alta de 15,98%. Entre os componentes do indicador, Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) passou de 0,42% em junho para 0,71% neste mês. O índice de preços no atacado acumula inflação de 44,25% em 12 meses e de 19,83% em 2021. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,57% para 0,83%, com inflação acumulada de 8,31% em 12 meses e de 4,26% no ano. O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M), divulgado pela FGV na terça-feira, 27, desacelerou de 2,30% para 1,24% e acumula alta de 17,35% em 12 meses e de 10,75% em 2021. Custos do produtor em altaA alta do IPA-M foi puxada pela aceleração do IPA industrial (0,94% para 1,50%) e, por outro lado, foi contida pelo IPA agropecuário, que aprofundou o movimento de deflação (-0,90% para -1,33%). Apesar da aceleração em julho, a inflação acumulada em 12 meses pelo IPA arrefeceu, de 47,53% no mês passado para 44,25%. Nesta base, o movimento de alívio foi visto tanto nos preços ao produtor agropecuário (53,29% para 46,65%), quanto no índice de produtos industriais (45,41% para 43,37%). “Efeitos sazonais, exportações e a alta acumulada nos preços das rações orientaram a aceleração do índice ao produtor, que, nesta apuração, contou com a destacada influência de três itens: minério de ferro (-3,04% para 2,70%), adubos ou fertilizantes (5,70% para 14,28%) e leite in natura (6,20% para 5,74%)”, afirmou o coordenador dos Índices de Preços da FGV, André Braz, em nota. A aceleração do IPA foi puxada pelo aumento das matérias-primas brutas, de deflação de 1,28% em junho para alta de 0,09% em julho. Além do minério de ferro, suínos (-13,50% para 5,69%) e mandioca/aipim (-6,01% para 3,57%) ajudaram a inverter o sinal do grupo. Na outra ponta, o comportamento da cana de açúcar (7,73% para 1,36%), café em grão (8,15% para 0,04%) e soja em grão (-4,71% para -5,92%) impediram uma aceleração mais forte. Na outra ponta, a FGV registrou desaceleração dos bens finais (1,32% para 1,08%) e bens intermediários (1,78% para 1,15%), puxados, respectivamente, por alimentos processados (2,45% para 1,36%) e materiais e componentes para manufatura (1,71% para 0,11%). As matérias-primas brutas acumulam inflação de 23,60% em 2021 e de 61,20% em 12 meses, enquanto bens finais têm alta de 10,38% no ano e de 23,90% em 12 meses e bens intermediários sobem 24,35% em 2021 e 46,15% em 12 meses. O ESTADO DE S. PAULO
“IPCA deve atingir 8,5% em 2021”
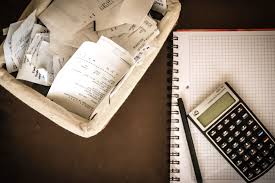
O IPCA deve chegar a 8,5% em 2021 e a 4,6% em 2022, nas projeções de Carlos Thadeu, economista sênior da Asset1, a gestora de Carlos Viana, ex-diretor do Banco Central (BC). “É mais fácil a inflação ir a 9% em 2021 do que ficar em 7%”, disse Thadeu à coluna. Para o analista, a reabertura da economia vai ser bem mais inflacionária do que muitos julgam, e a tendência não deve se limitar aos serviços ligados à mobilidade, os mais paralisados pela pandemia. Ele nota que a inflação de 2021 implícita em títulos públicos pós e prefixados subiu nos últimos 15 dias de aproximadamente 6,6% para 7,5%. Se os prognósticos de Thadeu estiverem corretos, há espaço para subir mais. O economista vê substanciais pressões inflacionárias em bens industriais, serviços, preços administrados e alimentação. Na parte de bens industriais, ao contrário do BC, o analista acha que as pressões por problemas de logística – como a falta de chips – não são temporárias, e a normalização só virá em 2023. “Os problemas devem se prolongar por todo 2022, mas a pior parte vai ser em 2021”, ele diz. Thadeu não vê, como alguns analistas, alívio na pressão sobre produtos industriais derivada de uma prevista reversão da tendência da pandemia de as pessoas gastarem menos com serviços e mais com bens: “Esse movimento deve ser mais lento do que se pensa”. Ele nota que, no caso de automóveis, diversas fábricas estão com linhas de produção paradas, por problemas de componentes. A projeção da Asset1 para a inflação de automóveis em 2021 é de 12,8%, o que se compara com algo em torno de 2,5% na média dos últimos cinco anos. Segundo o analista, o fenômeno da disparada do preços de carros usados nos Estados Unidos já começa a ser notado no Brasil. Contribui para o encarecimento de carros, eletrodomésticos e eletrônicos a alta do custo de minério de ferro, aço, petróleo, borracha dos pneus e mão de obra. Quanto aos serviços, Thadeu afirma que “a inflação vai surpreender”, a começar pelos setores mais associados à mobilidade (e que mais sofreram na pandemia), como passagens aéreas, aluguel de veículos, hotéis, restaurantes etc. Mas ele vê pressões também em serviços historicamente ligados ao IGP-M, como aluguéis e condomínios. Thadeu observa que os aluguéis subiram salgados 0,93% no IPCA-15 de julho. São poucos os contratos ainda ligados diretamente ao IGP-M (35,75% de inflação acumulada em 12 meses até junho), mas que puxam a média para cima. Mesmo nos serviços mais ligados à renda da população, que teoricamente teriam menos razão de subir, o analista identifica pressões. Ele costuma acompanhar três desses serviços em particular – manutenção de eletrônicos, consertos de automóveis e serviços pessoais excluindo os domésticos. Todos estão bem pressionados, especialmente no último trimestre. Já o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), também fortemente afetado pelo custo da mão de obra, está acima de 12% na média móvel de três meses anualizada. Thadeu acrescenta que os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo estão fechando um acordo de aumento salarial de 7,59% (em duas etapas, 4% agora, retroativos a maio, e 3,59% em janeiro de 2022). Em termos de preços administrados, a projeção do economista é que o petróleo tipo Brent, hoje por volta de US$ 75 o barril, suba acima de US$ 85 até o final do ano, com a combinação de controle da oferta pela OPEP e uma demanda global na saída da pandemia maior que a esperada. Já o etanol está pressionado pelo efeito das geadas na colheita de cana. E há, obviamente, a crise hídrica. Thadeu vê grande probabilidade de mais um ano de fenômeno La Niña, que pode inclusive assumir um feitio específico que provocaria secas substanciais na Argentina e Sul do Brasil no início de 2022. Ele vê 60% de chance de que a bandeira vermelha 2 nas tarifas de energia elétrica seja mantida até o fim do ano, incluindo dezembro, o cenário compatível com a projeção de 8,5% de IPCA no ano. Caso haja bandeira vermelha 1 no final do ano, o índice poderia ficar em torno de 8%. Quanto à alimentação, o segmento é afetado tanto pelas geadas a curto prazo quanto pela seca, com a alta dos principais grãos atingindo com força a cadeia de proteínas, como carnes, ovos, leite, queijo etc. Ele nota que as margens dos produtores estão muito comprimidas, desincentivando a ampliação da oferta, o que pode se combinar com um impulso na demanda pela reabertura de restaurantes. A projeção é de alta de 10% nos alimentos este ano, podendo chegar a 12%. Para 2022, a projeção de IPCA de Thadeu é de 4,6%, mas com propensão à revisão para cima. Entre os riscos, ele cita a possibilidade de um novo ciclo de gripe suína na China e eventos climáticos e ambientais. O ESTADO DE S. PAULO
Receita reduz valor de créditos de PIS e Cofins sobre insumos
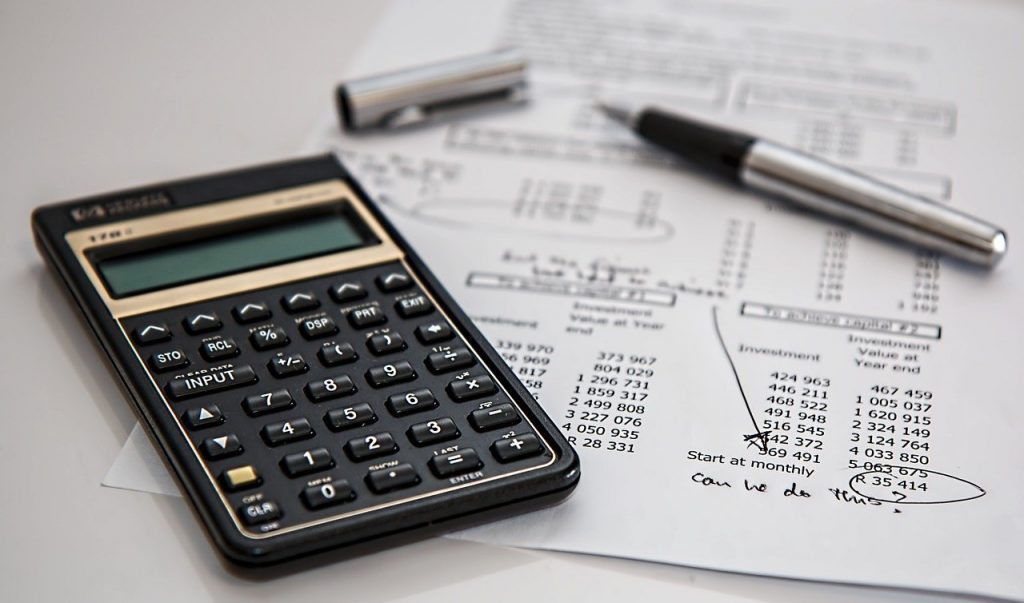
A Receita Federal adotou uma nova estratégia para tentar reduzir a conta de bilhões de reais gerada com a exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins, a chamada “tese do século”. Vem exigindo que as empresas utilizem o mesmo critério de cálculo dos pagamentos à União para contabilizar os créditos decorrentes da aquisição de bens e insumos – ou seja, sem o ICMS embutido. Essa condição, na prática, aumenta o PIS e a Cofins a pagar. Mais do que isso: pode gerar uma dívida acumulada em prol do governo. As companhias estão sendo cobradas por valores que teriam deixado de recolher aos cofres públicos nos últimos cinco anos. Pelo menos duas empresas, ambas com sede em São Paulo, relataram ao Valor que foram autuadas depois de informar à Receita sobre os valores que têm a receber do governo por conta de decisões judiciais permitindo a exclusão do ICMS do cálculo do PIS e da Cofins. Elas pretendiam utilizar tais quantias para quitar tributos correntes. A tomada de crédito faz parte da apuração das contribuições sociais para quem está no regime não cumulativo – praticamente todas as grandes empresas. A alíquota de PIS e Cofins, nesses casos, é de 9,25%. Para calcular quanto deve, o contribuinte precisa separar as notas de saída, referentes às vendas realizadas no mês, das notas de entrada, que contêm o custo de aquisição de produtos que dão direito a crédito (insumos, por exemplo). É feito um encontro de contas entre esses dois grupos de notas e sobre o resultado aplica-se a alíquota. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em maio, que a parcela do ICMS que consta na nota de saída – na venda dos produtos, portanto – deve ser retirada do cálculo do PIS e da Cofins. Os ministros consideraram que o imposto estadual não pode ser classificado como receita ou faturamento, que é a base de incidência das contribuições. Com a retirada do imposto estadual da conta, a base de cálculo do PIS e da Cofins foi reduzida e, consequentemente, os valores a pagar ao governo ficaram menores. As empresas, além disso, têm o direito de receber de volta o que pagaram de forma indevida nos últimos anos. O custo dessa tese para a União está estimado em R$ 358 bilhões, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Agora, a Receita está afirmando que, pela lógica, a parcela do ICMS que consta nas notas de entrada, ou seja, na tomada de crédito, também não poderia ser contabilizada. “Tomando crédito menor, obviamente, vai ter um débito de PIS e Cofins maior”, diz Leo Lopes, sócio do FAS Advogados. Ele cita como exemplo uma fabricante de calçados que gasta R$ 100 com a compra de couro ou tecido para confeccionar sapatos. Na apuração do PIS e da Cofins, ela obtém um crédito de 9,25% com a aquisição desse insumo. O Fisco está dizendo, agora, que se dentro desses R$ 100 de despesa, R$ 20 são de ICMS, a companhia só poderia utilizar R$ 80 na base das contribuições. O acumulado dessa diferença de R$ 20, seguindo esse exemplo, é o que está sendo exigido dos contribuintes. Uma das cobranças a que o Valor teve acesso diz que se na decisão judicial que beneficia a empresa não constar expressamente a forma de cálculo a ser adotada, a Receita Federal deve utilizar a sistemática que leva em conta a retirada do imposto na saída, como decidiu o STF, e também na entrada, a etapa que gera crédito ao contribuinte. “A Receita tenta criar uma regra de paralelismo [com a decisão do STF] que não faz sentido”, afirma Rubens de Souza, do Faria Advogados, acrescentando que esse movimento deve gerar novas disputas judiciais. “A tomada de crédito é feita com base no que a legislação permite, e não sobre o que vem de carga da etapa anterior.” O advogado Felipe Azevedo Maia, sócio do escritório AZM Advogados Associados, tem um cliente nessa situação. Ele diz que, por enquanto, a companhia está discutindo a cobrança administrativamente. Para o advogado, o entendimento da Receita pode, aparentemente, fazer sentido, mas, na tomada de créditos, afirma, a exclusão do ICMS só poderá ocorrer se houver mudança na lei. “A saída é baseada nos artigos 1º e 2º das leis do PIS e da Cofins. Já o crédito está no artigo 3º. Consta que a empresa pode tomar crédito sobre toda a despesa incorrida com serviços e mercadorias adquiridas como insumo. A legislação trata de uma maneira que não abre espaço para interpretação”, diz. Outra empresa também autuada pela Receita Federal está sendo representada pelo advogado Diego Miguita, do VBSO Advogados. O comportamento do Fisco soa como “um revanchismo”, afirma, mas não causa surpresa. Segundo o advogado, a Receita passou o recado de que essas autuações poderiam ocorrer no ano de 2019, ao publicar a Instrução Normativa (IN) nº 1911. Essa norma regulamenta a apuração do PIS e da Cofins. Com a publicação, foi revogada uma instrução normativa anterior, a de nº 404, de 2004, em que constava, de forma expressa, a possibilidade de crédito sobre a parcela do ICMS. A norma de 2019 suprimiu esse trecho do texto. “Ficou num limbo e o mercado percebeu, nas entrelinhas, que a Receita estava se movimentando para descontar o ICMS destacado na nota de entrada. Só que não há base legal. E, mesmo que houvesse, a Receita não poderia exigir valores não recolhidos antes da data de publicação dessa IN, já que a orientação era outra, permitindo a tomada de créditos”, acrescenta Miguita. A percepção dos advogados é de que a Receita segurou essas autuações até ter a certeza, no julgamento do STF, sobre qual ICMS deve ser retirado do PIS e da Cofins. A União defendia o imposto efetivamente recolhido. Prevaleceu na decisão, no entanto, o ICMS que consta na nota fiscal – geralmente maior. “A Receita certamente deixaria essa questão dos créditos de lado se tivesse vencido no Supremo” diz o advogado Luca Salvoni, do escritório Cascione.
O governo quer o dinheiro, e não a expertise das entidades do Sistema S (José Pastore)

Mais uma vez trava-se um embate entre o governo e o chamado Sistema S. O governo quer usar 30% dos recursos das suas entidades (R$ 6 bilhões anuais) para pagar bolsas de estudo para jovens a serem treinados em serviço, nas empresas. As entidades querem ajudar o governo, oferecendo o que elas vêm fazendo ao longo de 80 anos: transmitir conhecimentos e valores humanos. Mas o governo quer o dinheiro, e não a expertise. O que dizer? O projeto do governo tem mérito. O domínio de uma profissão é essencial para o primeiro emprego. Mas treinar em serviço é tarefa complexa. A simples transferência de recursos não garante a transferência de habilidades. Além da boa vontade, os gestores precisam saber como ensinar e como avaliar os jovens – tarefas que as entidades do Sistema S conhecem de cor e salteado. Por isso, penso que a parceria mais produtiva seria a de atrelar aquelas entidades em treinamentos presenciais e online para os próprios jovens, e apoiar didaticamente os gestores, ajustando os treinamentos à realidade de cada momento, porque o alvo é móvel. Além de não garantir o sucesso do projeto governamental, a perda de R$ 6 bilhões anuais complicará severamente a vida daquelas entidades na sua missão de formar capital humano em grande escala. No conceito antigo, o capital humano se referia apenas ao resultado do número de anos cursados nas escolas. Hoje, o Índice de Capital Humano, criado pelo Banco Mundial, inclui educação, saúde, cultura, esporte e outras atividades que contam muito para a formação das pessoas e para a sua produtividade. O Brasil está mal nesta foto: ocupa o 81.º lugar em 157 países analisados, atrás de Sri Lanka, Irã, Azerbaijão, Malásia e outras nações pouco desenvolvidas. Ao longo do tempo, as entidades do Sistema S aprenderam a trabalhar os seres humanos desde o nascimento até as idades avançadas por meio de programas de pré-natal, puericultura, alimentação, esporte, lazer, cultura e, sobretudo, ensino profissional em vários níveis. Para tanto, utilizam uma enorme rede nacional de centros de promoção social e escolas profissionais, ancorados em pesados investimentos em equipamentos físicos e recursos humanos, atendendo milhões de famílias. Comprometer esse trabalho seria conspirar contra o Brasil que está dando certo. É pouco provável que a formação do capital humano seria alcançada por um treinamento em serviço sem orientação. Para aprender, não basta receber uma bolsa. Mais importante é receber uma educação de boa qualidade. O que diferencia os bons sistemas de formação profissional no mundo são a “pontaria” sobre o que ensinar, a didática ajustada e os mecanismos rápidos de correção de rumos. O ensino profissional é complexo: demanda mestres experientes e devotados, material didático adequado, muita disciplina, equipamentos atualizados e o cultivo de valores sociais que conduzem à ética do trabalho. Na minha longa carreira de pesquisador visitei centenas de escolas do Senai e Senac. Nunca vi um aluno terminar o dia sem antes arrumar a bancada e deixar tudo em ordem. Nunca vi um aluno ofendendo professores ou funcionários. Nunca vi uma parede pichada ou um banheiro sem manutenção. Nunca vi um gramado abandonado. Nunca vi desprezo pelo trabalho. Nunca vi promoção sem mérito. Zelo, disciplina, respeito e amor pelo bem feito são valores que contam muito na formação e na empregabilidade dos jovens. Centenas de pesquisas comprovam isso. Convém repensar o assunto. *PROFESSOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, É PRESIDENTE DO CONSELHO DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DA FECOMERCIO-SP VALOR ECONÔMICO
Após isentar Simples, Economia avalia faixa de isenção maior para dividendo de outras empresas

A equipe econômica avalia elevar a faixa de isenção na tributação de lucros e dividendos distribuídos por micro e pequenas empresas, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Mesmo com a decisão de manter os valores distribuídos por empresas do Simples Nacional isentos da taxação de 20%, essa medida é necessária porque nem todas as companhias desse porte estão no regime do Simples. Micro e pequenas empresas que têm como sócios outras companhias ou instituições financeiras, por exemplo, não podem recolher tributos pelo Simples. Em geral, é comum que elas paguem tributos por outro regime simplificado, o de lucro presumido. Com a concessão da equipe econômica no sentido de isentar os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas do Simples, as demais micro e pequenas podem ter uma ampliação na faixa de isenção, estipulada originalmente em R$ 20 mil mensais. Um dos valores em discussão é de R$ 25 mil, mas fontes da equipe econômica afirmam que ainda não foi batido o martelo e diferentes simulações estão sendo feitas entre os técnicos. Segundo apurou a reportagem, cerca de 800 mil companhias poderiam se beneficiar da faixa de isenção maior. Apesar do aceno, o impasse em torno desse ponto está longe de acabar. Há uma pressão para que todas as empresas que optam pelo regime de lucro presumido (aquelas com faturamento de até R$ 78 milhões ao ano) tenham tratamento diferenciado na tributação de lucros e dividendos. O advogado Ricardo Lacaz, sócio do escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados, afirma que essas empresas querem que a alíquota do lucro presumido seja de 5%. A alíquota maior, de 20%, recairia sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas do lucro real, regime que reúne grandes companhias. Lacaz organizou esta semana uma reunião entre representantes de associações empresariais e o Ministério da Economia. Segundo ele, boa parte das empresas de lucro presumido se concentra nos setores de educação, saúde e construção e moradia. Sem uma revisão da proposta do governo, elas teriam como opção reajustar preços ou reduzir custos – com riscos de haver corte de mão de obra num momento já de desemprego elevado. “A redução do IRPJ não compensa a tributação de lucros e dividendos para empresas de lucro presumido”, afirma. Segundo ele, a medida tampouco se justifica do ponto de vista arrecadatório, já que as empresas maiores são as que mais engordam a arrecadação do governo – não as de lucro presumido. “Essa medida desconsidera uma realidade existente. Essas empresas de menor porte investem menos, existem para remunerar sócio. O investimento é menor, então a distribuição de lucro é proporcionalmente maior”, afirma Lacaz. Segundo ele, essa peculiaridade faria com que essas companhias fossem proporcionalmente mais tributadas do que as de lucro real, que poderão fugir da tributação retendo seus lucros e dividendos para investir. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, também avalia que as empresas de lucro presumido deveriam ter tratamento diferenciado. “Excluir seria um tratamento não isonômico. Achamos que tem que ter uma alíquota compatível. Não pode ter a mesma alíquota para um grande banco e para a padaria da esquina”, afirma. O ESTADO DE S. PAULO
Moraes anula decisão trabalhista de R$ 46 bi imposta à Petrobras

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu provimento a um recurso da Petrobras e anulou a maior condenação trabalhista da história da estatal, imposta em 2018 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). A decisão de impacto bilionário foi antecipada no início da tarde de ontem pelo Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vai recorrer. O TST determinou que a estatal corrigisse os salários de 51 mil funcionários, entre ativos e aposentados. Em 2018, a empresa estimou impacto de R$ 17 bilhões, mas, após o balanço do primeiro trimestre de 2021, a previsão estava em R$ 46 bilhões – aumento de 170%. A decisão de Moraes restabelece o entendimento de instâncias inferiores que haviam dado razão à Petrobras. Segundo essas decisões, os adicionais legais e constitucionais destinados a remunerar condições especiais de trabalho (como adicional noturno, periculosidade e sobreaviso, por exemplo) deveriam ser incluídos no cálculo de complemento da política salarial – a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), estabelecida em 2007 por meio de acordo coletivo. Quando o caso chegou ao plenário do TST, o placar, decidido no último voto, foi favorável aos trabalhadores. A maioria do colegiado entendeu que esses “extras” deveriam ser pagos à parte. A Petrobras recorreu ao STF, mas entraves burocráticos fizeram com que o recurso levasse mais de um ano para chegar ao gabinete de Moraes, sorteado o relator. Ele passou outros 18 meses sem despachar no processo. Ao menos quatro petições foram ignoradas, sendo duas impetradas pela própria companhia, que, em meio à crise econômica decorrente da pandemia, buscava formas menos onerosas para garantir os pagamentos. Ontem, Moraes proferiu sua decisão. Ele afirmou que o acórdão do TST “merece reforma, não se vislumbrando inconstitucionalidade nos termos do acordo livremente firmado entre as empresas recorrentes e o sindicato”. Para ele, a inclusão dos adicionais no cálculo não reduziu direitos trabalhistas, pois o acordo coletivo “não retirou os adicionais daqueles que trabalham em situações mais gravosas”. “As parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade”, escreveu. A decisão pegou colegas de surpresa. Nos bastidores do Supremo, o entendimento era o de que o tribunal precisava, antes, decidir se o caso tinha ou não repercussão geral, para depois fazer a análise do mérito. Além disso, para uma ala do STF, o mais adequado seria, ainda antes, pacificar uma série de temas trabalhistas pendentes de julgamento e que poderiam interferir diretamente na avaliação do caso concreto, como a ação que discute o chamado “acordado sobre o legislado”. Embora anulada oficialmente ontem, a condenação do TST ainda não havia surtido efeito prático. Liminares concedidas pelo próprio Supremo haviam paralisado cerca de 45 ações coletivas e 7 mil individuais até que houvesse um desfecho definitivo. Ou seja, a Petrobras não precisará reaver nenhum valor, pois os trabalhadores não foram efetivamente beneficiados. A controvérsia em torno do cálculo de complemento da RMNR começou em 2011, quando um servidor da área de Perfuração e Poços entrou com uma reclamação na 2ª Vara do Trabalho de Mossoró (RN). O pedido para que fosse feito o recálculo da sua remuneração foi negado três vezes – pela primeira e segunda instâncias e pela Quinta Turma do TST. O caso foi levado ao plenário da Corte trabalhista, que decidiu favoravelmente aos servidores. Com a reversão da condenação, a FUP afirmou que vai recorrer e pedir que o caso seja examinado pelo plenário do STF. “É surpreendente que um tema dessa natureza e complexidade seja decidido de forma monocrática e durante o período de recesso do Supremo”, disse o coordenador-geral da entidade, Deyvid Bacelar. Para ele, por ser individual, a decisão não é definitiva. A FUP afirma ser importante levar o caso a plenário para que a entidade tenha a oportunidade de fazer sustentação oral – a exemplo do que ocorreu no julgamento do TST, em 2018. O advogado Francisco Caputo, que representa a Petrobras, afirmou que a decisão de Moraes “confere mais segurança jurídica ao ambiente de negócios brasileiro”, mesmo que o caso ainda possa ir a plenário. Segundo o advogado, trata-se “de um montante muito significativo” em um processo que “estava amparado em decisões liminares”, isto é, provisórias. “Não há ilegalidade no caso. A empresa sempre agiu de boa-fé, com objetivo de promover o bem-estar dos funcionários, atendendo pleito dos próprios sindicatos.” VALOR ECONÔMICO
