‘Guedes quer estrelinha por privatizar Eletrobrás e joga prejuízo à sociedade’, diz Elena Landau

A aprovação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobrás, repleta de jabutis, é um retrocesso para a intervenção no mercado elétrico no mesmo nível da feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, critica a economista e sócia do escritório de advocacia Sergio Bermudes, Elena Landau. “Isso é natural num governo petista, mas num governo que se diz liberal, é espantoso”, afirma. Para ela, só estão a favor do texto o governo, os lobistas interessados em reserva de mercado e gasodutos e o ministro da Economia, Paulo Guedes, “que quer receber uma estrelinha por ter privatizado uma estatal jogando todo o prejuízo para a sociedade”. A economista, que coordenou o programa de privatizações no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, diz que a MP mostra que as relações entre os poderes atingiram nível baixo e vão piorar. “Perderam completamente o controle do setor elétrico. E vão perder o controle das reformas administrativa e tributária.” Confira os principais trechos da entrevista. O que a senhora achou do texto da privatização da Eletrobrás?O melhor seria deixar o texto caducar e fazer uma privatização de verdade, com a seriedade que a Eletrobrás, o setor elétrico e a sociedade mereciam. O texto piorou. Perdeu-se o foco, de tal forma que as discussões sobre a privatização, sobre como fazer a oferta pública e a diluição das ações, o poder de mercado da nova empresa, passaram a ser irrelevantes. O cenário era apenas extrair o máximo de recursos possíveis para atender currais eleitorais. Foi o que vimos no Orçamento, em que não houve discussão de interesses nacionais. Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da Câmara, foi esperto ao tirar completamente o foco da privatização. Cada um tentou salvar seu setor e ninguém discutiu qualidade. Discutiu-se subsídio e térmicas a carvão, navegação de rios, revitalização de bacias, indenização para o Piauí, algo gravíssimo, que não existe e que abrirá um precedente para todos os Estados que privatizaram suas distribuidoras em troca de renegociação das dívidas com a União. Esse cenário foi uma surpresa?Não; Quando o governo envia ao Congresso uma proposta com tantos detalhes, era de se esperar que os parlamentares colocariam seus interesses em cada um dos itens. O governo tinha que trabalhar diariamente para defender seus objetivos, mas foi injúria em cima de infâmia. A MP já saiu com concessões para os presidentes da Câmara e do Senado. Por que o interesse do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é mais relevante que o de parlamentares do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Piauí? Não é. Quando você concede para um, tem de estar preparado para conceder para todos. Foi o que aconteceu. Mesmo com os jabutis, o governo avalia que venceu uma batalha que valia a pena. E a senhora?Eu já tinha previsto que o governo ia ter que pagar para vender a Eletrobrás. Foi o que aconteceu, e os parlamentares disputaram o uso dos R$ 60 bilhões que serão levantados com a privatização. O Brasil prefere trabalhar fora do Orçamento, fora do teto de gastos. Nem se sabe se a proposta é legal ou para de pé. Passaram a discutir assuntos ultrapassados, como reserva de mercado para gasodutos, uma discussão que voltou porque o governo deixou que voltasse. Quem mais errou nas discussões da privatização da Eletrobrás?As pessoas adoram falar mal do Congresso, mas o pior ator nisso tudo foi o Executivo. Quando viram que sairia um texto inconstitucional na Câmara, era hora de ter resgatado a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede a inclusão dos jabutis. Não apenas não fizeram isso, como o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, elogiou o relatório, que invade a competência dele e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para decidir leilões, planejar a expansão do sistema e definir as fontes. Chama a atenção que aceite essa invasão. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também elogiou a proposta, não fez análise de impacto regulatório dos jabutis e cometeu o mesmo erro que já havia feito na Medida Provisória 579/2012, do governo Dilma Rousseff. Dá para comparar a MP da Eletrobrás com a MP editada por Dilma?A MP da Eletrobrás é um retrocesso do mesmo nível da MP 579. Acaba com a concorrência e a alocação eficiente de custos. Definir local, quantidade e combustível de termelétricas é uma intervenção completa no setor elétrico. Isso é natural num governo petista, mas num governo que se diz liberal, é espantoso. Chama a atenção o silêncio do ministro da Economia, Paulo Guedes. Caíram na mesma esparrela de discutir impacto tarifário, a exemplo da MP 579. E acho que estão subestimando o desestímulo que essa proposta traz para os investimentos futuros no setor. Todo o setor, a academia, os liberais, a esquerda, os funcionários, os consultores estavam contra. Só estavam a favor o governo, os lobistas interessados em reserva de mercado e gasodutos e Paulo Guedes, que quer receber uma estrelinha por ter privatizado uma estatal jogando todo o prejuízo para a sociedade.Rasgaram o modelo de leilões criados pelo governo Lula, uma lei que foi debatida por um ano antes de virar um MP. Foi um desmonte completo do setor elétrico, tudo feito de forma açodada. O que a votação da MP da Eletrobrás expõe sobre as relações entre governo e Congresso?Não consigo entender o apoio do governo a esse texto. A influência do senador Rodrigo Pacheco para legislar até sobre racionamento mostra que o governo perdeu completamente o controle do setor elétrico. E vai perder também o controle das reformas administrativa e tributária. Estão numa correria para dizer que fizeram algo, não importa o quê. E todo mundo que é a favor das reformas bem feitas está muito preocupado e prefere que não seja feito nada, até porque elas serão feitos por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e projeto de lei. Depois, quando você muda a regra, precisa de lei e PEC de novo para desfazer, diferente de resoluções e portarias, que são mais fáceis de alterar. Eu avisei: pau que nasce torto morre torto. Era de
Revolução no imposto das empresas enfrenta já vários obstáculos
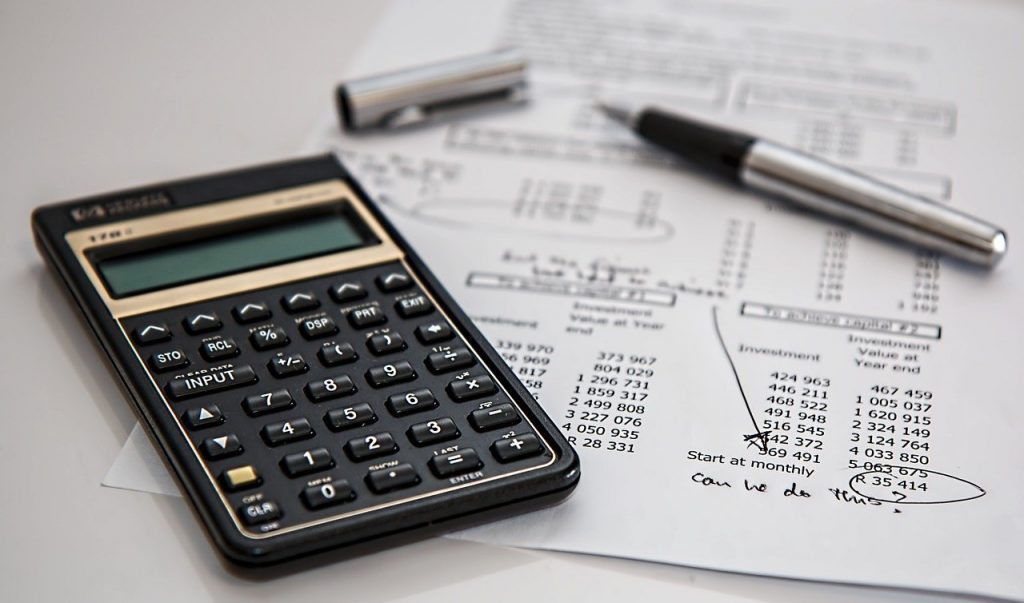
As nações mais ricas do mundo montaram o palco para uma revolução na tributação das empresas, mas ainda têm grandes desafios pela frente para realmente levarem as mudanças a cabo. Negociações nas próximas semanas entre mais de 100 governos, prévias ao encontro do G-20 (grupo das maiores economias do mundo) em julho, tentarão avançar a partir das linhas gerais acertadas no acordo neste mês dos ministros das Finanças do G-7 (grupo das sete maiores economias ricas). Apesar dos avanços quanto a uma alíquota tributária mundial mínima a ser aplicada sobre empresas e apesar da mudança de filosofia, permitindo que um país tribute os lucros de grandes nomes nacionais de outros países, há diversos detalhes técnicos a resolver. Definir que empresas serão incluídas e como os governos ainda poderiam se valer de incentivos tributários para encorajar atividades econômicas apesar de um imposto mínimo global são alguns dos problemas que têm travado as negociações no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A adoção de qualquer acordo pode demorar anos, exigindo emendas em tratados comerciais e em leis nacionais. Além disso, os receios quanto à sua aplicação na prática também poderiam inviabilizar um acordo. “Já faz um mês que estamos tendo poucas horas de sono”, disse Pascal Saint-Amans, encarregado de comandar essas negociações na OCDE, à televisão francesa em 14 de junho. “As próximas duas semanas serão muito importantes.” O acordo do G-7 acertou os princípios gerais sobre a transferência do local de tributação de parte dos lucros das empresas, que passaria dos países onde elas têm sede para os países onde elas fazem a venda. Mas decidir que empresas incluir – aquelas referidas no acordo com estando “no escopo” – ainda é um desafio. Em abril, o governo Biden propôs usar critérios de receita e de margens de lucro para limitar a lista a cerca de 100 empresas. Isso ajudou a neutralizar os conflitos sobre critérios mais qualitativos ou, por exemplo, sobre a adoção de alguma diferenciação para as empresas de https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg, mas os países ainda precisam chegar a um acordo final sobre os limites que determinariam a entrada de uma empresa em tal lista. O G-24 (grupo de países em desenvolvimento, que inclui Brasil, Rússia, Índia e África do Sul) defende que os critérios de abrangência sejam gradualmente alterados, de forma a incluir mais de 100 empresas, segundo um comunicado enviado a outros governos em maio. Os países também precisam decidir quanta arrecadação tributária deverão compartilhar, uma vez que o G-7 prevê realocar “pelo menos 20%” dos lucros acima de uma margem de 10%. As economias em desenvolvimento querem a maior fatia possível do imposto sobre o lucro das multinacionais que operam em seus territórios. Os negociadores também estão revendo critérios qualitativos polêmicos, que manteriam a Amazon.com, de baixa margem de lucro, dentro dos parâmetros por meio da separação de suas linhas de negócios mais lucrativas. As empresas têm reclamado que tal segmentação pode ser altamente complexa, em particular quando fazem a própria contabilidade financeira de forma diferente. Se as firmas de serviços financeiros forem excluídas, como se espera, isso representaria outro problema, já que diferenciá-las claramente das empresas de https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg está cada vez mais difícil. O chamado segundo pilar das negociações criaria uma taxa de imposto global mínima sobre as empresas, uma grande oportunidade para ampliar a arrecadação governamental, o que é prioridade nos EUA e tem amplo apoio em outros países. A OCDE estima que US$ 150 bilhões adicionais por ano podem ser gerados a partir de regras mais rígidas dos EUA sobre o lucro no exterior e uma alíquota global mínima de 15%. Isso será uma ideia difícil de vender para a Irlanda, cuja alíquota sobre as empresas é de 12,5%. Além disso, alguns países, como a China, querem exceções nas regras, que lhes permitam atrair investimentos em alta https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg por meio de incentivos tributários. “Um imposto mínimo é transferir parte da soberania tributária e do modo como você oferece incentivos a algum tipo particular de investimento estrangeiro”, disse David Linke, diretor da área de serviços legais e tributários na KPMG. “Essa é uma questão difícil.” Um acordo na OCDE poderia erradicar uma série de tarifas aplicadas, principalmente, sobre empresas de https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg americanas, que muitos países impuseram de forma unilateral nos últimos anos e que desencadearam ameaças de retaliação por parte dos EUA. Para restaurar a confiança mútua, os negociadores precisam chegar a um consenso sobre quais dessas medidas seriam revertidas e quando. Tais países não se mostram inclinados a abolir as tarifas até que recebam alguma arrecadação adicional decorrente do acordo na OCDE. Conseguir a adesão dos países em desenvolvimento pode ser difícil já que não ganharão muito no processo. “Cada país terá que pesar o custo e os benefícios”, disse Marilou Uy, diretora do G-24. “Em particular, porque lhes será pedido que abram mão de medidas tributária unilaterais.” Implementar quaisquer novas regras acertadas nas reuniões do G-20 em julho ou outubro é algo que exigirá muitas mudanças nos tratados e nas leis nacionais. Trata-se de um tema espinhoso na União Europeia, onde diretrizes sobre mudanças tributárias no bloco exigem aprovação unânime e onde muitos países podem se opor a leis que sigam um acordo da OCDE. Além das reservas da Irlanda quanto ao imposto global mínimo de 15%, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, chamou o plano de “absurdo”. Os EUA também se deparam com vários obstáculos, pois um acordo pode exigir a aprovação de leis no Congresso. Além disso, mudanças em tratados precisam de maioria de dois terços no Senado. Os democratas, em grande medida, apoiam os esforços da secretária do Tesouro, Janet Yellen, para remodelar os impostos internacionais, mas os líderes do partido querem ter garantias quanto ao comprometimento de outros países antes de pedir aos correligionários para que votem a favor de uma controversa alíquota mínima. VALOR ECONÔMICO
Confiança do comércio tem primeira alta do ano

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 12,2% em junho ante maio, com alta de 47,6% ante junho de 2020. De acordo com a entidade, foi a primeira elevação do indicador no ano na comparação mês ante mês imediatamente anterior, impulsionada por perspectiva de melhora na economia, e aumento de vendas no setor devido às transações relacionadas ao Dia dos Namorados, em 12 de junho. Em junho, os três tópicos componentes usados para cálculo do Icec mostraram elevação, tanto ante maio desse ano; quanto em relação à junho de 2020. É o caso de condições atuais, com elevações de 19,3% e de 71,8%, nessas duas comparações respectivamente; expectativas, com aumentos de 11,6% e de 53,9%, ante maio e ante junho do ano passado; e de intenções de investimentos, com elevações de 8% e de 26,5%, respectivamente nesses períodos comparativos. No comunicado sobre o desempenho do indicador, a CNC informa que, na prática, há no momento avaliação geral melhor da atividade econômica. A entidade lembra projeção própria de 3,9% de alta nas vendas do varejo em 2021, com base nas estatísticas de abril do varejo já divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A CNC também ampliou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para esse ano, de 3,2% para 3,8%, em linha com as reavaliações de mercado em relação ao andamento da economia para esse ano, pontuou a entidade, em informe sobre o indicador. As empresas de pequeno porte do setor do varejo se mostraram as mais otimistas –influenciadas pelo aumento da circulação das pessoas pelas ruas. VALOR ECONÔMICO
‘Investidor estrangeiro tem medo do Brasil’, diz ex-presidente da CVM

O setor privado brasileiro tem a tradição de olhar preferencialmente para dentro do País, com uma posição protecionista em relação ao mercado doméstico, com “medo” do mundo. Era esse o norte, até o fim de 2019, do mais recente livro do economista Roberto Teixeira da Costa. Aí veio a covid-19, e o Brasil virou um “problema”, pária internacional, também por causa da ação do governo federal em relação ao ambiente e aos direitos humanos. O economista incorporou isso ao finalizar O Brasil tem medo do mundo? Ou o mundo tem medo do Brasil? (Noeses), lançado no início do mês. Agora, a solução para o Brasil melhorar a imagem no exterior passa pelas eleições gerais de 2022, diz Teixeira da Costa, que estruturou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o órgão regulador do mercado financeiro, como seu primeiro presidente. Desde o início dos anos de 1980, dedica-se à articulação internacional empresarial, como fundador e membro de conselhos de várias entidades. A seguir, os principais trechos da entrevista. O Brasil tem medo do mundo ou o mundo tem medo do Brasil?As duas coisas. A origem do livro é saber por que o Brasil tem medo do mundo. E por que o Brasil tem medo do mundo?Uma coisa que o livro procura identificar é quais são as razões que fizeram com que o Brasil tivesse uma posição tão inferiorizada no contexto mundial e nunca se projetasse de maneira compatível com sua relevância mundial. Apesar de todos os percalços, somos um País de 211 milhões de habitantes, o maior da América Latina, com uma riqueza fantástica da natureza mineral, vegetal e da agroindústria. Temos um corpo de empresários laborioso e criativo, uma classe trabalhadora muito competente. Se somar tudo isso, abstraindo dificuldades conjunturais, não temos problemas estruturais que justifiquem não termos uma presença internacional muito maior. Toda a explicação está no mercado interno?Existem razões outras. Por exemplo, acho que existe um conservadorismo hereditário do nosso sistema de colonização. O Brasil não se vendia, era comprado. Todos os ciclos (econômicos) que o Brasil teve foram porque fomos procurados, desde o pau-brasil. Uma coisa que aprendi no mercado é que ações não são compradas, são vendidas. Caderneta de poupança não se precisa vender, mas o que são as ações? São o pedaço de uma projeção de um resultado futuro (de uma empresa) trazida a valor presente. Por isso, é preciso vendê-las. Como a pandemia afeta o mercado internacional?Uma das consequências da pandemia é que não podemos mais ficar dependentes de suprimentos de itens fundamentais da nossa economia vindos do exterior. Mesmo pagando mais caro, temos de ter produção interna para, nas crises, não ficarmos dependendo de suprimentos externos. Foi o que aconteceu agora. De repente, todo mundo acordou para o fato de que estamos todos na mão da China. A pandemia pode trazer um recrudescimento no protecionismo?Acho que vai acontecer. Embora o (presidente dos Estados Unidos, Joe) Biden diga que é a favor do multilateralismo, estamos vendo um grau de solidariedade entre os países, para enfrentar a crise, muito baixo. Não estamos vendo cooperação na América Latina. Isso não pode reforçar a aversão do empresariado brasileiro à abertura?Temos de lutar contra isso. O título do meu livro estava pronto no fim de 2019: Por que o Brasil tem medo do mundo? No início de 2020, veio a pandemia, e tive de rever totalmente. Essa revisão obrigou a acrescentar: Por que o mundo tem medo do Brasil. Hoje, não somos solução para nada. Somos o problema. Criamos uma situação de isolamento, por causa da questão amazônica, de direitos humanos e do meio ambiente. O investidor estrangeiro tem medo do Brasil. Por quê? Nunca vi tanta abundância de capitais no mundo como hoje. Se o Brasil tivesse mínimas condições, deveríamos estar sendo abarrotados de capital. Só que o Brasil, hoje, é um pária do mundo. Ninguém quer saber do Brasil. O que fazer agora?Vamos ter de fazer um trabalho muito bem organizado, juntando todas as forças vivas do País, empresários e governo, e não o governo atual. A grande esperança são as eleições de 2022. Não acredito que consigamos mudar a nossa imagem externa agora. Temos de fazer um trabalho para encontrar estadistas. Está otimista com as eleições de 2022?Acredito no povo brasileiro. Acho que, no fim do dia, as pessoas vão se dar conta de que, realmente, precisamos mudar. Qualquer governo no lugar do atual é melhor?Não tenho a menor dúvida. O que não podemos é substituir seis por meia dúzia. Por isso, temos de escolher bem. Espero que, até junho do ano que vem, o cenário (eleitoral) esteja definido, com as candidaturas do presidente (Jair Bolsonaro), do (ex-presidente) Lula e da terceira via. O ex-presidente Lula é uma alternativa melhor?É uma pergunta delicada. Teria de refletir muito, mas, certamente, não votaria no Bolsonaro, por definição. No Lula, depende do comportamento que ele vai ter daqui até as eleições. O Lula teve bons períodos na Presidência da República. Internacionalmente, foi até uma surpresa. Havia um encanto enorme com o Lula no cenário internacional. Era a pessoa que ia mudar o Brasil, no entanto, aconteceu o que aconteceu. O ESTADO DE S. PAULO
Brasil recua em ranking de competitividade

O Brasil perdeu uma posição no Anuário de Competitividade Mundial e caiu para 57º lugar entre 64 países, depois de quatro anos de leve avanço, segundo relatório do IMD, de Lausanne (Suíça), reputada como uma das melhores escolas de administração do mundo. O país está no pelotão de baixo da competitividade global marcado por um governo visto com a terceira pior eficiência (62ª posição) e só à frente dos governos da Venezuela e da Argentina. A imagem ou ‘’marca’’ do país no exterior também continua se deteriorando e ocupa a 61ª posição, melhor apenas que a imagem externa de Turquia, Argentina e Venezuela. O IMD compara a prosperidade e a competitividade de 64 nações com base em 334 critérios. Os dados estatísticos têm peso de dois terços dos resultados e pesquisas de opinião entre executivos representam um terço. Em um ano marcado por crise sanitária, as economias consideradas mais competitivas são Suíça, Suécia, Dinamarca, Holanda e Cingapura. Elas têm em comum investimento em inovação, atividade diversificada, coesão social e políticas de apoio governamental. Os EUA continuaram na décima posição. A China manteve sua trajetória de ascensão e evolui da 20ª para 16ª posição. Em geral, países da Ásia oriental e central e da Europa Ocidental melhoraram seus rankings. Já a América do Sul, onde a pandemia continua fazendo estragos importantes, enfrentou uma reversão de melhorias alcançadas nos dois anos anteriores e agora todos os países da região caíram no ranking. No caso do Brasil, a maior economia da América Latina e a 12ª do mundo, o relatório aponta melhora no indicador de desempenho econômico (56º lugar ante 51 no ano anterior), em razão de evolução relativa na economia doméstica, comércio internacional e preços. ‘’Os programas de ajuda a famílias e empresas combinados mantiveram a economia em funcionamento e alavancam agora seu potencial’’, avalia o professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, parceira nacional no estudo do IMD. No mais, o Brasil caiu onde já não estava bem. No indicador de eficiência do governo, que reflete como políticas governamentais ajudam na competitividade, a 62ª posição é explicada por exemplo no pior desempenho (64º) em termos de gastos do governo central, além de elevado grau de endividamento público e manobras envolvendo teto de gastos. Também postergou reformas administrativa e tributária. A percepção de executivos aponta problemas no combate a corrupção, retrocesso na Lava-Jato, falta de confiança no governo, crescente violência urbana, desigualdades, persistente má distribuição de renda. Em termos de coesão social, o Brasil está na lanterna (60º lugar). Em 52º em termos de como a Justiça é administrada de forma justa. Em abertura da cultura nacional, está em 37º, caindo 16 posições no ano da pandemia. Para José Caballero, do IMD e um dos autores do relatório, há uma percepção de menos tolerância no Brasil, talvez no rastro de polarização envolvendo o combate à covid-19, e que envolve também situação de minorias e abertura ou não a novas ideias e novas propostas. Nesse contexto, a “marca’’ Brasil no exterior sofre. “Sem entrar no lado político, desde 2019 temos notado uma queda na imagem do Brasil no exterior, na percepção de executivos, provavelmente por questões de uma fraqueza nas instituições, enorme burocracia, corrupção, falta de transparência, preocupação com o estado de direito”, afirma Caballero. VALOR ECONÔMICO
G-20 quer se preparar para lidar com próxima pandemia

Quando os líderes do G-7 (grupo das sete maiores economias ricas) se reuniram há uma semana no Reino Unido prometeram mais vacinas contra a covid-19 para países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que reconheceram que “a próxima pandemia pode vir a qualquer momento”. Agora, discussão para melhorar a capacidade de preparação e resposta à pandemias futuras entrou na agenda dos ministros de finanças do G-20, formado pelas maiores economias desenvolvidas e emergentes, que voltarão a se reunir de forma presencial nos dias 9 e 10 de julho, em Veneza (Itália). O Valor apurou que uma das ideias que pode prosperar é a criação de um mecanismo multidisciplinar para melhorar a coordenação entre organismos financeiros internacionais e os responsáveis pelos sistemas de saúde. Decisões formais deverão ocorrer na cúpula dos líderes do G-20 no fim de outubro, em Roma. Existe consenso hoje de que o custo de prevenção e respostas antecipadas a pandemias é pequeno comparado a suas consequências e subinvestimentos em saúde. Algumas estimativas sugerem que a covid-19 pode custar mais de US$ 10 trilhões à economia mundial em 2020-21. Já despesas com prevenção de pandemia não passam de algumas dezenas de bilhões de dólares. A questão é como mobilizar os recursos antes da propagação de surtos, por exemplo. EUA, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido, Canadá e União Europeia (UE), que formam o G-7, levam para o G-20 sua proposta de criação de “estruturas apropriadas para fortalecer nossas defesas coletivas contra ameaças à saúde global: aumentando e coordenando a capacidade de fabricação global em todos os continentes; melhorando os sistemas de alerta precoce; e apoiando a ciência em uma missão para encurtar o ciclo para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testes seguros e eficazes de 300 a 100 dias”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai trabalhar com o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outras instituições financeiras multilaterais para “explorar formas” de garantir que os países não sejam prejudicados economicamente. De um lado, relatando potenciais ameaças pandêmicas mais rápido e cedo, e de outro para que os países integrem a saúde e a segurança sanitária nas estratégias econômicas e de segurança nacional a longo prazo. Mas a questão crucial no momento continua a ser a distribuição de vacinas aos países em desenvolvimento. O G-7, avançado na imunização, prometeu um bilhão de doses até o ano que vem. Na Organização Mundial do Comércio (OMC) persistem as diferenças sobre como assegurar uma resposta rápida e eficaz à pandemia. Um grupo de 63 países liderado pela Índia e África do Sul propõe suspender os direitos de propriedade intelectual por três anos para acelerar produção de vacinas em países em desenvolvimento. A UE defende a posição de outro grupo de que a propriedade intelectual deve ser protegida e considera que licença voluntária de patentes é mais eficaz para facilitar a produção de vacinas contra a covid-19. Mas admite que, se a licença voluntária não funcionar, a licença compulsória é uma opção legitima em período de urgência, mas dentro das regras da OMC. A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, espera ter até julho uma ideia do rumo das negociações, para eventual decisão em novembro em reunião de ministros dos 164 países membros. VALOR ECONÔMICO
Mercado já prevê Selic a 6,5% no fim de 2021 após BC subir os juros

O tom mais duro contra a inflação adotado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) no seu comunicado de 16 de junho, no qual elevou a Selic – a taxa básica de juros do País – de 3,50% para 4,25%, aumentou a incerteza e deslocou para cima as apostas do mercado para a trajetória dos juros. Após a decisão, a mediana das estimativas para a Selic no fim de 2021 subiu a 6,50%, segundo a pesquisa Projeções Broadcast. No último levantamento, antes da reunião do Copom, a previsão era de 6,25%. A estimativa mínima do mercado para a Selic avançou de 5% para 5,75%, enquanto o teto das projeções subiu de 7% para 7,25%. Agora, cinco de 37 instituições pesquisadas estimam que a taxa básica de juros deve ser, ao fim do ano, igual ou maior que 7%. Na pesquisa anterior, apenas uma das 52 instituições financeiras ouvidas previam esse nível de juros. No seu comunicado, o Copom agiu em linha com as expectativas do mercado ao substituir a menção a uma “normalização parcial” da Selic pela sinalização de “normalização para patamar considerado neutro” – isto é, em um nível que permita manter a inflação estável e mais próxima à meta de 3,5% no fim de 2022. Mas o colegiado ainda foi além e sinalizou a possibilidade de acelerar o ciclo de alta de juros caso haja deterioração das expectativas de inflação para o ano que vem. Diante da sinalização do BC de que deve elevar novamente a Selic em 0,75 ponto porcentual, 35 de 37 casas preveem aumento dos juros a 5% na próxima decisão de política monetária em agosto. No entanto, duas instituições já esperam alta de juros de 1,0 ponto porcentual diante da afirmação do Copom de que uma deterioração das expectativas de inflação poderia levar a uma “redução mais tempestiva dos estímulos monetários”. Riscos de inflaçãoPara o economista-chefe do banco de investimentos Haitong, Marcos Ross, o comunicado do BC sinalizou um equilíbrio de riscos assimétrico, por causa das chances de aceleração da inflação. O analista manteve o cenário de aumento de 0,75 ponto porcentual da Selic em agosto, a 5,0%, e de juros em 6,75% no fim de 2021, mas reconhece que o texto indicou um risco de normalização mais rápida da política monetária. “Acho que a chance de o Copom reduzir o ritmo não existe mais”, diz Ross, que prevê alta de 6,10% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 e inflação entre 3,50% e 3,60%, próxima ao centro da meta, para 2022. “Existe um risco de aceleração [do ciclo de alta de juros] com base na evolução das expectativas para 2022 e existe uma chance não desprezível de o BC, no meio do caminho, aumentar esse ritmo de alta para 1,0 ponto porcentual.” Ross avalia que o BC parece ter ficado desconfortável com a expectativa do mercado para a inflação de 2022 em torno de 3,80% e afirma que um aumento dessa previsão a 3,90% ou 3,95% já pode ser suficiente para desencadear a aceleração do ciclo. Por outro lado, o movimento de apreciação do real em relação ao dólar, somada à alta de juros, pode ser suficiente para conter as expectativas de inflação e dar espaço para uma normalização mais lenta da política monetária. Das 37 instituições consultadas, 28 preveem fim do ciclo de alta ainda em 2021. O ASA Investments já incorporou ao seu cenário-base um aumento de juros de 1,0 ponto porcentual na reunião de agosto. Segundo o economista-chefe da instituição, Gustavo Ribeiro, a sinalização do BC de que uma deterioração das expectativas pode exigir aceleração da normalização praticamente contrata um aumento dessa magnitude em agosto, quando o cenário de inflação e atividade deve estar mais pressionado. Ribeiro lembra que a inflação acumulada em 12 meses deve atingir o pico em agosto e afirma que essa medida tem forte correlação com as expectativas de inflação. Já o Banco Inter aposta em um fim do ciclo de alta em outubro, com Selic a 5,75%. A economista-chefe, Rafaela Vitória, explica que essa é a taxa considerada neutra pela instituição, suficiente para manter uma inflação próxima da meta em 2022, para a qual estima 3,60%. “A inflação corrente contamina as expectativas. Em junho do ano passado, a mediana no Focus (para o IPCA) chegou a ser de 1,5%. Hoje é o contrário, mas a inflação é de oferta, e, não, de demanda”, ressalta Vitória. “O choque está se dissipando, com commodities em queda, câmbio mais favorável e o próprio ajuste da política monetária.” A economista acrescenta que o ambiente externo, com juros muito baixos em países como os Estados Unidos, é outro elemento que sustenta a Selic em nível menor. Como riscos, a economista-chefe cita a possibilidade de um superaquecimento americano e uma mudança da política de gastos por parte do governo brasileiro. “Se (o governo) fizer um Bolsa Família fora do teto e eleva despesas para 2022, vai ter impacto na demanda, pode ter no câmbio e isso pode ser repassado para a inflação”, afirma. O ESTADO DE S. PAULO
Justiça questiona convenções coletivas (Claudia Safatle)

Apesar de os contratos negociados nas convenções coletivas terem, em média, cerca de 500 páginas, o valor do passivo trabalhista provisionado pelos bancos chega a R$ 35 bilhões. A Justiça do Trabalho não tem aceitado determinadas cláusulas mesmo acertadas de maneira legal e de forma bem detalhada entre os sindicatos e as empresas. Razão pela qual o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a examinar, ontem, pela terceira vez, ação de questões trabalhistas para definir se vale o negociado sobre o legislado. A demanda junto ao STF não era dos bancos, mas do setor de educação. Há questões diversas sendo questionadas na Justiça do Trabalho, mesmo depois da reforma trabalhista, que esperava-se que fosse pacificar esse entendimento. Por exemplo, a hora-deslocamento em transporte fretado pelas empresas para os seus funcionários não seria considerada hora extra, conforme a negociação coletiva, mas a Justiça do Trabalho teria discordado e decidido que é, sim, hora extra e como tal tem que ser paga aos trabalhadores. Passivo trabalhista dos bancos é de R$ 35 bilhões Os bancos negociaram pagar mais 55% do salário por uma jornada de oito horas para determinados cargos. A Justiça também não concordou com a extensão da jornada de seis horas por mais duas horas e considerou o aumento de 55% como uma gratificação que não deve ser devolvida. “Se a Justiça não aceita o acordo coletivo e não concorda com o desconto do que foi pago a mais, é um desestímulo à negociação”, comentou uma fonte que acompanha de perto as negociações com os sindicatos dos trabalhadores. O peso das causas trabalhistas nos resultados operacionais do sistema bancário faz do Brasil um caso único no mundo. Cálculos ainda preliminares feitos por técnicos do setor financeiro indicam que as decisões da Justiça do Trabalho respondem por cerca de 3% a 5% do spread (taxa de risco) que os bancos cobram nas operações de crédito. As ações trabalhistas são ônus dos bancos com rede de agências, que respondem por cerca de 503 mil empregados espalhados por milhares de agências em 4 mil municípios do país. O setor paga em torno de 25% dos mais de R$ 20 bilhões de despesas anuais das empresas com a Justiça trabalhista, o que representa mais de R$ 5 bilhões por ano. Embora esse seja um passivo que afeta toda a economia do país, e não apenas os bancos, ele é o setor que arca com mais gastos porque é também o que tem os melhores salários do país. Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancários têm uma remuneração média de R$ 7.035 em comparação com os R$ 2.882 de remuneração média no país. Enquanto reinavam sozinhos na atividade financeira, não havia maiores problemas. O surgimento de novos players no mercado de crédito tornou essa uma questão importante porque não há custo trabalhista relevante nas cooperativas de crédito nem nas fintechs. Lá os salários são menores, porque não são bancários. A Justiça reconheceu os funcionários das cooperativas de crédito e das fintechs como prestadores de serviços. Cada bancário recebe por ano R$ 5.500 a título de participação nos lucros, dentre uma série de outros benefícios. “Na mesma rua você tem empregados de agências, que são bancários, e têm um determinado custo, e na empresa ao lado, que também faz operações de crédito, há funcionários que não são bancários e que custam bem menos”, salienta uma fonte do setor. O salário médio das cooperativas é de R$ 4.032, o que corresponde a 57% do salário médio de um bancário. Segundo o Relatório de Economia Bancária (REB), as cooperativas participam com 5% do total das operações de crédito. Há grande concentração em duas instituições: o Sicoob (33%) e o Sicredi (39%). Do total das operações de crédito, o Sicoob tem participação de 1,65%, e a Sicredi, de 1,95%. O saldo da carteira de crédito das cooperativas está em torno de R$ 103 bilhões, segundo dados do Banco Central. Sicredi e Sicoob representam aproximadamente 85% desse ativo. Esses são números que colocam as cooperativas ligadas a Sicredi e o Sicoob como o sexto maior banco do país, argumentam fontes ligadas ao sistema bancário. Ambos detêm ativos quase quatro vezes maiores do que os do Banco Safra. O Banco do Brasil é hoje menor do que as fintechs Nubank, XP, Stone e PagSeguro e vem perdendo espaço no crédito rural para as cooperativas. Em decisão recente o Congresso Nacional aumentou, para os próximos seis meses, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 20% para as cooperativas e de 20% para 25% para os bancos. Esse é mais um capítulo da discussão sobre a assimetria regulatória a que os bancos alegam estar sendo submetidos. Como já disse em coluna anterior, trata-se de um tema complexo e instigante, relativo ao perímetro regulatório do Banco Central. O problema, aqui, porém, é o da Justiça do Trabalho não estar aceitando cláusulas contratuais de acordos coletivos em uma aparente desobediência à decisão do STF que, em 2015, determinou que vale o negociado sobre o legislado, renovando, assim, decisão já tomada em 2005. Ontem o Supremo começou julgamento de recurso que questiona a interpretação da Justiça do Trabalho sobre a incorporação de cláusulas de convenções coletivas nos contratos individuais de trabalho. O julgamento teve início com a leitura do relatório, pelo ministro Gilmar Mendes, que não chegou a votar. A sessão foi suspensa pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que não definiu data para retomar o assunto. Claudia Safatle é jornalista da equipe de criou o Valor Econômico e escreve às sextas-feirasE-mail: claudia.safatle@valor.com.br VALOR ECONÔMICO
STF começa julgamento de tema que afeta negociações coletivas

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deram início ao julgamento em que vão definir um ponto importante das negociações coletivas na seara trabalhista, a validade da chamada ultratividade – manutenção do acordo coletivo anterior até a fixação de um novo. O julgamento começou ontem, mas nem o relator, ministro Gilmar Mendes, votou, por causa do horário. Ao suspender a sessão, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que irá marcar uma data para a continuação, o que deve ocorrer no dia 30. O tema pode impactar centenas de pessoas. Hoje, cerca de 3,760 milhões processos tramitam com as palavras chaves ‘norma coletiva’, ‘acordo coletivo’, ‘convenção coletiva’ e ‘supressão’ ou ‘prevalência’ ou ‘limites de direitos trabalhistas’ na petição inicial, segundo o Data Lawyer Insights, plataforma de jurimetria. O banco de dados abrange processos desde 2014. O assunto é julgado em ação proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) contra a interpretação judicial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª (RJ) e da 2ª Regiões (SP) sobre a ultratividade das normas coletivas. Em novembro de 2012, o TST revisou a Súmula nº 277, de 1988. A partir daí, a Corte passou a entender que os benefícios concedidos aos trabalhadores serão automaticamente renovados e somente revogados se houver nova negociação. Até então, o entendimento do TST era de que as vantagens negociadas entre empresas e trabalhadores valeriam enquanto vigorasse o acordo. Esse prazo, segundo a CLT, poderia ser de um a dois anos. Para mantê-los na próxima convenção seria necessária nova rodada de negociação. A Confenen alega na ação que o TST mudou entendimento consolidado de maneira abrupta. Com a edição da reforma trabalhista, em 2017, foi introduzido na CLT, o parágrafo 3º, do artigo 614, que vedou a ultratividade. Quando não há ultratividade em cada data base, as categorias precisam retomar a negociação do patamar zero, explicou na sustentação oral o advogado José Eymard Loguércio, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química (CNTQ), amicus curiae (interessada) na ação. Se de um lado a ultratividade induz a manutenção das relações de trabalho para que se retome a negociação, ela não impede que em situação excepcional ou de dificuldade econômica o empregador possa reformar o acordo coletivo, segundo Loguércio. O advogado exemplifica o caso de um auxílio-alimentação acordado em negociação. “Ao final do acordo coletivo, sem ultratividade, cessaria a obrigação de pagar auxílio alimentação? O que faz o empregador? Para espontaneamente? Não paga? Aguarda? A regra da ultratividade é de segurança para as negociações coletivas”, afirma. O tema é central para o direito do trabalho e para o atual momento de mudanças nas relações de trabalho, segundo Loguércio. De acordo com Zilmara David de Alencar, que representa um conjunto de amicus curiae, também de sindicatos de trabalhadores do comércio e educação, entre outros, a ultratividade é necessária para a harmonia sistêmica das relações de trabalho. VALOR ECONÔMICO
