STF pode acabar com demissão sem justa causa? Entenda julgamento em 3 pontos
Corte deve retomar processo que se arrasta há 25 anos sobre convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) — notícia que vem causando uma série de mal entendidos nos últimos dias. A informação de que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar em 2023 um julgamento que se arrasta há 25 anos sobre uma convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) levou alguns perfis nas redes sociais e grupos de WhatsApp a reproduzirem comentários indignados de que a corte poderia proibir a demissão sem justa causa no Brasil. Não se trata disso, conforme os advogados que falaram à reportagem da BBC News Brasil. Derrubar essa regra seria inconstitucional. A convenção 158 da OIT, objeto do julgamento do Supremo, estabelece a necessidade de justificativa para as demissões feitas por iniciativa do empregador. Essa justificativa pode ser, por exemplo, de ordem econômica (a empresa precisa reduzir o número de funcionários), técnica (a função do empregado deixará de existir por conta de uma automatização) ou mesmo de desempenho (a empresa julga que a performance do funcionário está aquém do que ela gostaria). A empresa continua podendo demitir unilateralmente, conforme as regras estabelecidas pela legislação brasileira, mas passaria a precisar evidenciar o motivo do desligamento — mesmo que ele não fundamente uma “justa causa”. “O fato de o texto da convenção usar a expressão ‘justificar’ é que talvez tenha causado confusão [com a ‘justa causa’ da legislação trabalhista brasileira]”, comenta Fabíola Marques, sócia do escritório Abud Marques Sociedade de Advogadas e professora da PUC-SP. A convenção 158 da OIT foi lançada em 1982 e conta com 35 signatários, entre eles Austrália, França, Espanha, Finlândia e Suécia. A seguir, a BBC News Brasil explica em 3 pontos os detalhes técnicos dessa discussão e o que está em jogo no julgamento do STF. O que o STF vai julgar Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1625, que chegou ao Supremo em 1997. Nela, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) questionam a decisão do então presidente Fernando Henrique Cardoso de retirar o Brasil da convenção 158 da OIT. O Brasil havia ratificado o dispositivo em 1995, após votação do Congresso. Em novembro de 1996, contudo, FHC revogou a participação do país no tratado internacional — ou “denunciou”, no jargão jurídico. A ação da Contag argumenta que o presidente não poderia ter unilateralmente decidido pela retirada do país. Da mesma forma que a ratificação foi aprovada pelo Legislativo, sua retirada também deveria sê-lo. E é esse o mérito em discussão no STF: se o decreto assinado pelo presidente na época é ou não constitucional. O que está em jogo Caso o Supremo decida que a revogação foi inconstitucional, a convenção 158 da OIT poderia, então, passar a valer no Brasil. O que ainda não se sabe é de que forma. Entre os 8 votos de ministros já computados desde o início do julgamento, em 1997, já há maioria formada em torno do entendimento de que o decreto presidencial é inconstitucional. Alguns acreditam, contudo, que a norma internacional precisaria de uma lei complementar feita pelo Congresso para que pudesse entrar em vigor; enquanto outros avaliam que ela seria “autoaplicável”, diz Fabíola Marques. Esse entendimento se fundamenta na emenda constitucional 45, de dezembro de 2004, que estabelece que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. A professora acrescenta que a tendência é que o STF, ao concluir o julgamento, module a decisão, ou seja, que estabeleça como a norma seria aplicada e a partir de quando. “Eles podem dizer que a medida vale, por exemplo, dos últimos 5 anos para cá, dos últimos dois anos para cá ou só daqui pra frente”, ela exemplifica. Otávio Silva Pinto, sócio da área Trabalhista da SiqueiraCastro e professor da USP, avalia que, seja qual for a decisão, pouca coisa mudaria na prática na forma como acontecem as rescisões de contrato de trabalho no país. Como a maioria das normas internacionais, a convenção 158 é bastante genérica, ele explica. Assim, cabe a cada país que a ratifica compatibilizá-la com as leis locais. No Brasil, a demissão sem justa causa se fundamenta no artigo 7º da Constituição, no inciso I, que diz que são direitos dos trabalhadores a “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória”. Essa lei complementar, diz o professor da USP, nunca foi redigida e votada pelo Congresso. Desde 1988, um dispositivo transitório da Constituição estabelece que, enquanto a lei complementar não fosse aprovada, o FGTS valeria como a indenização a que o artigo 7º faz referência. E é isso o que acontece até hoje: quem é demitido sem justa causa recebe a multa do fundo de garantia e pode sacar o dinheiro, além de outros direitos. “Na prática, nós sempre tivemos uma regra dizendo que o trabalhador tem sua relação de trabalho protegida contra dispensa. A proteção depende de lei complementar, que deveria prever a indenização compensatória. Mas a Constituição tem 34 anos e a lei complementar nunca veio”, ele comenta. Segundo o professor, a ideia de revogar a convenção nos anos 1990 se deu porque ela gerou “certa confusão” na época, com algumas decisões do judiciário de reintegração de funcionários demitidos aos seus empregos. A medida, contudo, acabou gerando um problema jurídico maior. “O que está em discussão no Supremo há 25 anos é se o Fernando Henrique podia ou não ter denunciado a convenção 158 sem ouvir o Congresso”, reitera. Com a convenção em vigor, na avaliação de Silva Pinto, o empregador passaria a precisar fundamentar o motivo da demissão, seja ele qual for. Enquanto não houver lei que detalhe como essa fundamentação deve ocorrer, pode haver insegurança jurídica, ele acrescenta. “O juiz pode ser chamado a resolver um caso concreto e decidir de maneira desfavorável à empresa — mas não necessariamente vai ser essa a conduta dos juízes.” De forma geral, diz Paulo Renato Fernandes da Silva, doutor em Direito, professor da
Para quanto vai o salário mínimo em 2023?

Por Redação Patamar de R$ 1.302, como fixou Bolsonaro, é o que ainda está valendo, já que Lula ainda não editou MP com o valor de R$ 1.320 BRASÍLIA – O salário mínimo de 2023 em vigor é de R$ 1.302, de acordo com o texto da Medida Provisória (MP) editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que aumentaria o valor e o Congresso chegou a aprovar o Orçamento deste ano com a previsão de salário mínimo em R$ 1.320, mas o presidente ainda não sancionou a peça orçamentária e nem editou outra MP formalizando o novo patamar do piso. Nesta sexta-feira, 6, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o salário mínimo “será pago normalmente”, ao ser questionado sobre quando o governo editará uma MP para reajustar o valor. Em nota, a pasta afirmou valor do mínimo “está em discussão entre os ministérios da área econômica e a decisão final compete à Presidência da República”. O órgão disse ainda que “estuda a melhor maneira de encaminhar essa questão, destacando-se que o processo de criação dos ministérios e de divisão de equipes ainda está em curso, e informará os detalhes assim que o quadro estiver mais definido”. Nesta sexta-feira, 06, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, convocaria uma entrevista coletiva sobre o tema, mas, segundo a assessoria de Marinho, o ministro só deve falar na segunda-feira. Correção do salário mínimo A correção do salário mínimo foi tema de campanha e é tema sensível. Na véspera da eleição em segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro propôs um aumento do salário mínimo para R$ 1.400, o que teria um custo em torno de R$ 42 bilhões, segundo o Observatório Fiscal do IBRE/FGV. Foi uma tentativa de contrapor a informação de que a equipe econômica do presidente tinha estudos para corrigir o piso com base na expectativa futura de inflação e não mais com o índice do ano anterior. A política de valorização do salário mínimo, com reajustes pelo índice de preços e pela variação do PIB, vigorou entre 2011 e 2019, mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação. Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação porque o PIB dos anos anteriores (2015 e 2016) encolheu. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento. Em 2019, houve um aumento real de 1%, refletindo o crescimento de dois anos antes e marcando o fim da política. Segundo o governo, para cada R$ 1 no salário mínimo, as despesas com benefícios sociais e da Previdência atreladas ao piso sobem R$ 364,8 milhões. Costa falou sobre o impacto do piso nas contas públicas, especialmente pele elevação no número de aposentadorias e pensões concedidas no fim do ano passado. “Há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo, um represamento das aposentadorias. Foi liberado no segundo semestre, depois das eleições, um contingente grande, o que mostrava que o represamento não era dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos. Se fosse dificuldade administrativa não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Nitidamente fica caracterizado que não era de fluxo administrativo e sim como estratégia de contenção de pagamentos de aposentadorias”, afirmou o ministro, após reunião ministerial./Com Antonio Temóteo https://www.estadao.com.br/economia/salario-minimo-valor-2023/
Empresários temem impacto na economia e cobram reação a atos bolsonaristas

Avaliação é que invasão eleva a percepção de risco Representantes do empresariado dizem estar preocupados com o impacto das manifestações golpistas em Brasília neste domingo (8). Empresários e entidades do setor privado afirmam que os atos podem ter fortes implicações na economia e cobram controle da situação. A avaliação é a de que a demora pode agravar a percepção de risco sobre o país. “O Brasil elegeu seu novo presidente democraticamente, pelo voto nas urnas. A vontade da maioria do povo brasileiro deve ser respeitada. Tais atos violentos são manifestações antidemocráticas e ilegítimas que atacam os três Poderes. O governo e as instituições precisam voltar a funcionar dentro da normalidade, pois o Brasil tem um desafio de voltar a crescer, gerar empregos e riqueza e alcançar maior justiça social”, disse Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, em nota. Para Fábio Barbosa, CEO da Natura&Co, o caso é absolutamente inaceitável. “Que os invasores sejam punidos rigorosamente, na forma da lei. E que se apure também como o policiamento não estava preparado para reprimir um ato que era previsível”, diz Barbosa. O banqueiro Ricardo Lacerda, do BR Partners, também prevê perdas para o país. “Eu acho que podemos ter um impacto negativo para os mercados e a economia com a elevação do risco institucional. Por isso é preciso punir exemplarmente os responsáveis”, afirma. Segundo Lacerda, são “bandidos e canalhas empunhando a bandeira nacional em atos de agressão às nossas instituições”. O ex-banqueiro e fundador do partido Novo, João Amoêdo, foi às redes sociais cobrar reação dura. “O governo federal deve agir de forma dura, junto ao governo de Brasília, para prender estes vândalos e por fim aos acampamentos antidemocráticos que servem de base para estes atos”, escreveu Amoêdo. Em nota, o Sindusfarma (que reúne a indústria farmacêutica), diz que “repudia todo tipo de violência e de atos que ferem a Constituição. Protestos pacíficos e democráticos, como já tivemos no Brasil são positivos. Depredação de patrimônio público não pode ser aceito pela sociedade brasileira”, afirma Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma. Ricardo Roriz, da Abiplast (associação do setor de plásticos), disse que os atos deste domingo pode prejudicar investimentos. “O ambiente de negócios atual apresenta muitas incertezas, pois não há previsibilidade sobre as medidas que o novo governo irá tomar na economia e ainda há instabilidade política e institucional. Isso limita os investimentos. Além disso, os incidentes de hoje, com exageros lamentáveis e inaceitáveis em alguns lugares, apenas atrasam a reação positiva do mercado e a diminuição da percepção de risco, o que poderia melhorar os indicadores econômicos”, afirma Roriz. Segundo a Abrasca (associação das companhias abertas), os atos afetam fortemente a imagem internacional do país e irão prejudicar a retomada do crescimento econômico. “A Abrasca conclama todas as partes para assumirem suas responsabilidades, do governo e da oposição, da sociedade civil, empresários e todas as lideranças políticas, para que haja uma rápida retomada da normalidade institucional e democrática”, diz em nota. Entidades como Aneor (Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Abiis (aliança da indústria inovadora em saúde) e o grupo de empresários Esfera Brasil também também divulgaram notas de repúdio. Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2023/01/empresarios-temem-impacto-na-economia-e-cobram-reacao-a-atos-bolsonaristas.shtml
Decisões do STF podem anular parte da reforma trabalhista

Ao todo, tramitam no STF 11 ações contra mudanças aprovadas pela reforma, como o trabalho intermitente e a ampliação dos acordos individuais Bianca AlvarengaFábio Matos Aprovada pelo Congresso Nacional em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, a reforma trabalhista deve voltar à pauta neste ano, desta vez debatida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Cinco anos depois de entrar em vigor, a legislação que flexibilizou e desburocratizou o mercado de trabalho pode sofrer alterações importantes na mais alta Corte do Judiciário. Ao todo, tramitam nos escaninhos do Supremo 11 ações movidas contra mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – legislação criada no início dos anos 1940, sancionada por Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo (1937-1945). Os processos tratam de sete temas relacionados à reforma trabalhista. O número de ações apresentadas ao STF contra pontos aprovados na reforma chegou a 40, mas grande parte delas já foi considerada improcedente pela Corte. As 11 ainda pendentes de julgamento tratam de sete temas principais, entre os quais o contrato de trabalho intermitente, questionado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5826, 6154 e 5829. “O Judiciário é convocado para tomar decisões quando o legislador não atuou de forma clara. A reforma trabalhista é um bom exemplo disso”, avalia Cássio Faeddo, sócio do escritório Faeddo Advogados. O volume de discussões no STF e as múltiplas possibilidades de decisões geram um ambiente de insegurança jurídica para os empregadores, que contratam de acordo com as mudanças aprovadas no âmbito da reforma. “A insegurança jurídica nos faz sofrer há muito tempo. Não é possível saber ainda como ficarão os contratos que estão vigentes, diante das decisões do Supremo. Os acordos de trabalho que estão em curso precisarão ser revogados ou modificados, o que gerará consequências administrativas dentro das empresas. Isso também faz parte do custo Brasil, o custo de administração da legislação trabalhista”, critica Eduardo Fayet, vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). Trabalho intermitente A atual legislação brasileira permite a modalidade de contrato para trabalhos esporádicos, em que haja alternância entre períodos de prestação de serviços e de inatividade. Por esse modelo, o funcionário só recebe pelo período efetivamente trabalhado, e os direitos trabalhistas (como férias e 13º) são pagos proporcionalmente. No ano passado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mais de 276 mil trabalhadores foram contratados sob esse formato. O julgamento sobre o contrato intermitente teve início em dezembro de 2020 no STF, mas acabou suspenso por um pedido de vista da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte. Em novembro de 2021, o caso foi transferido para o plenário virtual do Supremo, mas neste ano deve ser novamente analisado pelo colegiado no plenário físico do tribunal. Quatro ministros já votaram sobre o tema. O relator, Edson Fachin, considerou que os contratos intermitentes podem causar insegurança jurídica e não garantem “suficientemente” os direitos trabalhistas dos empregados – ele foi acompanhado por Rosa Weber. Nunes Marques e Alexandre de Moraes, por sua vez, divergiram dos dois magistrados, entendendo que a modalidade traz benefícios a empregados e empregadores. “Quando houve a inclusão desse tipo de contratação na CLT, muito se falou sobre algo que viria para formalizar o ‘bico’. O que tem se debatido é que esse contrato não dá muita segurança para o trabalhador. Para que esse funcionário possa auferir uma renda significativa, ele necessita ter vários contratos intermitentes com diversos empregadores”, pondera Priscila Moreira, advogada trabalhista do escritório Abe Advogados. Para Faeddo, é possível que o STF não revogue completamente o trabalho intermitente, mas que estabeleça novas condições para esse tipo de contratação. Na visão do advogado, poderia haver limitações de setores que poderiam abrir vagas de emprego intermitente, como eventos e o comércio. Além disso, a lei poderia estipular um valor mínimo de horas de trabalho, além de um piso para remuneração e contribuições. Cálculo de dano moral e jornada 12 por 36 Outro ponto que deve ser analisado pelo STF trata do tabelamento de indenizações por dano moral na Justiça do Trabalho, instituído pela reforma. Até o momento, apenas o ministro Gilmar Mendes votou sobre o tema, mantendo o que está estipulado na legislação aprovada em 2017, que vincula o valor das indenizações à remuneração dos empregados. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Nunes Marques. Os ministros do STF também terão de deliberar sobre a possibilidade de a chamada jornada de trabalho 12 por 36 (12 horas de trabalho por 36 horas de descanso) ser pactuada por meio de acordos individuais, sem a intermediação de sindicatos. Esse formato, em geral, é adotado em setores como o hospitalar e o de segurança, que precisam de atividade durante o dia e a noite. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) ingressou com uma ação no STF alegando que a norma viola a Constituição – que, no inciso XIII do artigo 7º, fala em duração da jornada não superior a oito horas diárias e 44 horas semanais. Já aposentado do STF, o relator do caso, ex-ministro Marco Aurélio Mello, votou pela inconstitucionalidade do dispositivo aprovado na reforma trabalhista. Gilmar Mendes pediu vista e interrompeu o julgamento. “Apesar de, em um primeiro momento, a jornada de 12 por 36 horas parecer contrária ao que a Constituição prega, se observarmos o módulo semanal e mensal, acabamos tendo uma jornada até menor do que um contrato de 8 horas diárias. É uma jornada que está consolidada em algumas áreas, nas quais já é praxe esse contrato de 12 por 36”, defende Moreira, do Abe Advogados. Já Cássio Faeddo pondera que muitos empregadores têm usado da negociação individual para estabelecer jornadas mais longas, que descumprem o período de descanso. A Justiça acompanha ações de trabalhadores que atuam na jornada de 12 por 36 horas e que foram obrigados a aderir a um banco de horas para creditar o período de horas extras trabalhadas na janela das 36 horas que deveriam ser de folga. Acordos coletivos Outro assunto que deve ser decidido no plenário do Supremo envolve os acordos
Trabalho reage, mas fica mais barato após pandemia
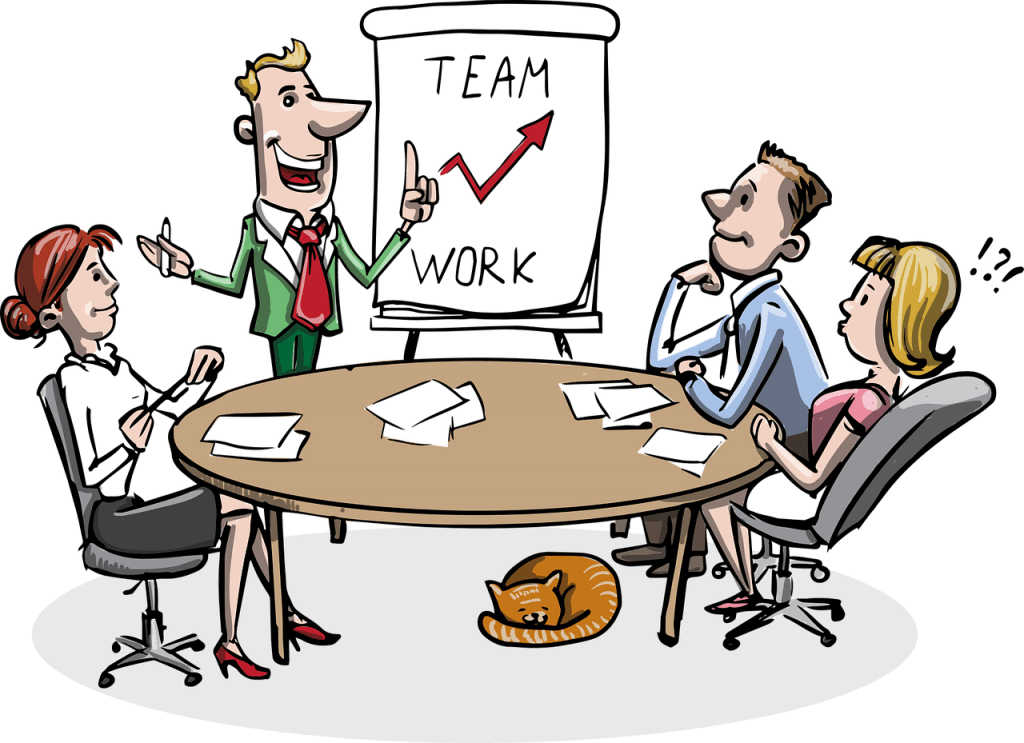
Desemprego cai com avanço da ocupação, enquanto renda ainda se recupera, e informalidade segue alta Leonardo Vieceli Douglas GavrasRIO DE JANEIRO e SÃO PAULO O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe da gestão de Jair Bolsonaro (PL) um mercado de trabalho com desempenho misto: parte dos indicadores mostra retomada, enquanto outra parcela ainda sinaliza dificuldades. Após o baque da pandemia, o desemprego engatou uma trajetória de queda em meio ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Com a volta dos brasileiros ao trabalho, a desocupação ficou menor do que no período pré-Bolsonaro. A renda, porém, despencou em um cenário de inflação alta e, mesmo com os recentes sinais de melhora, não se recuperou totalmente do choque. Além disso, a informalidade, marcada pelos populares bicos, permanece elevada e se apresenta como um desafio para o governo Lula. “Pelo lado da ocupação, o desempenho do mercado de trabalho vem sendo muito positivo, mas, quando olhamos para a renda, ainda temos preocupações”, afirma o economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores. “A trajetória da renda não acompanhou a inflação elevada durante um período. Além disso, o trabalho ficou mais barato na pandemia. Tivemos uma grande oferta de mão de obra pouco qualificada. Isso acaba afetando”, acrescenta. No trimestre de agosto a outubro de 2022, o mais recente com dados disponíveis, a população ocupada com algum tipo de vaga –formal ou informal– foi de 99,7 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do maior número da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), iniciada em 2012. Em igual trimestre de 2018, antes da era Bolsonaro, a população ocupada estava em 93,3 milhões. Em 2020, na fase inicial da pandemia, o número chegou a cair para menos de 83 milhões. Com a reabertura de atividades e estímulos à economia no último ano, a taxa de desemprego recuou para 8,3% no trimestre encerrado em outubro de 2022. É o menor nível para o período desde 2014 (6,7%). O número de desempregados –pessoas de 14 anos ou mais sem trabalho à procura de vagas– foi de 9 milhões até outubro do ano passado. Também é o número mais baixo para esse trimestre desde 2014 (6,7 milhões). “O desemprego caiu muito. Grande parte dessa história é explicada pela recuperação pós-Covid. Na pandemia, houve um represamento grande do consumo de serviços, o setor que mais emprega”, diz o pesquisador Daniel Duque, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). O economista, por outro lado, considera que o rendimento médio do trabalho, em termos reais, foi o “grande perdedor” dos últimos anos. É que, em um horizonte de inflação elevada, a renda mergulhou em uma trajetória de queda em 2021 e 2022, atingindo os menores patamares da década. No trimestre mais recente, até outubro do ano passado, o rendimento foi estimado em R$ 2.754. O valor representa uma melhora frente aos meses anteriores, mas ainda ficou abaixo de igual período de 2019 (R$ 2.811), no pré-pandemia, e do mesmo intervalo de 2018 (R$ 2.784), no pré-Bolsonaro. A economista Vívian Almeida, professora do Ibmec-RJ, entende que o mercado de trabalho apresenta uma recuperação incompleta. Mesmo com a retomada da ocupação, um grande contingente de trabalhadores ainda convive com a incerteza de trabalhos pontuais, destaca a professora. Segundo a Pnad Contínua, o número de trabalhadores sem carteira assinada ou CNPJ foi de quase 39 milhões no trimestre até outubro de 2022. O número ficou um pouco abaixo do recorde de 39,3 milhões, verificado no trimestre imediatamente anterior, até julho. “Muitas pessoas transformaram a renda que era adicional na fonte principal”, afirma Almeida. “No caso dos motoristas de aplicativos, por exemplo, a pergunta de R$ 1 milhão é como tratar esses profissionais e como eles querem ser tratados. A questão da proteção social ultrapassa o salário. É preciso enxergar as demandas deles”, acrescenta. Os 39 milhões informais representaram 39,1% da população ocupada até outubro (99,7 milhões). A taxa de informalidade recorde da série comparável foi de 40,9% no trimestre até julho de 2019, antes da pandemia. Quando surgiu um trabalho para Graça Soares, 55, durante as férias com parentes no Espírito Santo neste ano, ela não pensou duas vezes. “Aproveitei para visitar a família em janeiro, mas surgiu uma oportunidade de limpar uma casa aqui, em Cachoeiro de Itapemirim, acabei topando. Quem é diarista não pode recusar trabalho.” Soares faz diárias há pouco mais de um ano em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Antes da pandemia, trabalhou como empregada doméstica para uma só família por nove anos, mas a crise sanitária a obrigou a ficar em casa e, no retorno ao trabalho após a vacinação, soube que os patrões teriam de substituir a empregada fixa por duas diárias por semana. Ela avalia que a pandemia mudou sua vida, reduziu os ganhos e aumentou a insegurança. “Ainda quero um emprego fixo, mas parece algo muito distante.” Levantamento feito pelo Datafolha em dezembro mostrou que 77% dos brasileiros preferem ter carteira assinada, com direitos trabalhistas garantidos, mesmo que a remuneração seja menor. Outros 21% escolhem trabalhar sem carteira, sem direitos trabalhistas garantidos, se o salário for maior. Para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o mercado de trabalho iniciou uma recuperação após o choque da pandemia, mas de “maneira precária”. Nesse sentido, ele cita a perda de renda e o alto número de informais. Na visão do diretor, um dos desafios do novo governo Lula é “repactuar” trechos da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, no governo Michel Temer (MDB). “A reforma foi feita de maneira muito rápida. Então, é necessário recolocar os setores na mesa. Você precisa fazer as discussões de maneira coletiva”, diz. Na terça-feira (3), o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, descartou uma revogação completa da reforma trabalhista, sinalizando que defende apenas a revisão de trechos da legislação. Marinho ainda afirmou que o governo irá apresentar ao Congresso Nacional até maio uma política de valorização permanente do salário mínimo e até o primeiro semestre uma proposta de regulação de aplicativos, trabalho que ele classificou como “semiescravo”. O ministro pregou diálogo com as empresas de https://sindeprestem.com.br/wp-content/uploads/2020/10/internet-cyber-network-3563638-1.jpg para
