Condução da economia tem baixa confiança e preocupa, diz pesquisa
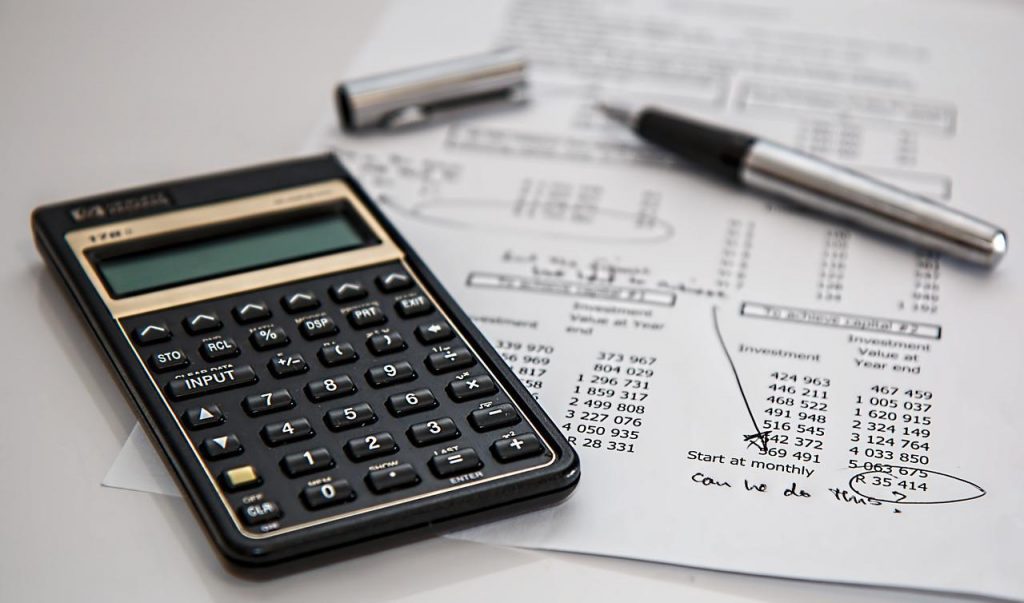
Sondagem mostra que 31,5% temem política econômica e 28,4% vêm emprego como questão principal Por Marsílea Gombata — De São Paulo A falta de confiança na política econômica do governo é hoje a maior razão por trás do pessimismo com a situação atual da economia. A incerteza quanto às diretrizes supera até mesmo a inflação no ranking de fatores que influenciam a avaliação desfavorável sobre o cenário econômico do país, mostra levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Segundo a sondagem, parcialmente publicada no Boletim Macro de agosto, do FGV Ibre, para 31,5% dos entrevistados, a baixa confiança na política do governo é o fator que mais influencia a avaliação negativa sobre a situação econômica do país. A inflação vem em segundo, com 28,4%, seguida por mercado de trabalho (12,3%), efeitos da pandemia (9,7%), endividamento das famílias (9,5%), incerteza (3,1%) e taxa de juros (2,6%). A coleta de dados foi feita entre 1º e 21 de julho com 1.573 respondentes. Para economistas, os resultados refletem a avaliação em relação ao governo atual e se misturam com o debate eleitoral. Eles ressaltam que questões como mercado de trabalho e inflação têm peso maior para os mais pobres e a condução da política econômica é preocupação maior para os mais ricos. No curto prazo, a tendência é esse cenário continuar, afirmam. No estudo, a faixa 1 diz respeito às famílias cuja renda vai até R$ 2.100 mensais. A faixa 2 é para rendas entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800, e a 3 vai de R$ 4.800,01 a R$ 9.600. A 4 vale para famílias com rendas a partir de R$ 9.600,01. O levantamento mostra que as faixas de renda 2 (34,9%) e 4 (33,2%) citam mais a falta de confiança na política econômica do que as rendas 1 (27,3%) e 3 (29,8%). A inflação como grande problema está mais presente nas rendas 4 (35,2%), 3 (29,3%) e 2 (28,3%) do que na 1 (20,3%). O mercado de trabalho pega mais para famílias mais pobres (20,2%), enquanto efeitos da pandemia pesam mais para aquelas na faixa de renda 3 (13,4%). O endividamento também é dor de cabeça maior para famílias mais pobres, de renda 1 (16,3%), do que para os mais ricos, de renda 4 (5,5%). Segundo Rodolpho Tobler, economista do FGV Ibre responsável pelo levantamento juntamente com Viviane Seda, os resultados falam sobre a percepção em relação ao governo e à situação atual. “A falta de confiança na política econômica é maior para todas as faixas de renda. Na 1 pesam também mercado de trabalho e endividamento, enquanto na 4 política econômica e inflação somam quase 70%. Em geral, são pessoas mais ricas e escolarizadas, que compreendem um pouco melhor como a política econômica atinge suas vidas.” A pergunta da pesquisa, afirma Tobler, era sobre a situação geral da cidade ou país, e não apenas a da pessoa ou sua família. “Na faixa 1 de renda, pode haver pessoas que não conseguem emprego ou têm um emprego aquém do que gostariam”, afirma ao pontuar que o mercado de trabalho é mais relevante para essas famílias. Ele chama atenção também para a parcela significativa dos mais pobres que citam o endividamento como maior fonte de preocupação. “Os resultados falam mais sobre a situação atual do que dão pistas sobre o que pode ocorrer na eleição presidencial. É mais a marca negativa da percepção em relação ao presente, que reflete a falta de confiança na política econômica”, diz. O levantamento foi realizado em julho. Tobler acredita, contudo, que as sondagens feitas a partir de agosto podem retratar a inflação com destaque menor, por causa da queda dos preços observada recentemente. Na avaliação de Rodolfo Margato, economista da XP, incertezas eleitorais estão levando entrevistados a citar a política econômica como maior dor de cabeça. “Pelo timing da sondagem, parte das incertezas eleitorais deve ter levado respondentes a colocar a política econômica como principal fonte de preocupação”, afirma. “Eleições e dúvidas sobre quem governará o país nos próximos anos podem afetar a preocupação com o lado fiscal e a intervenção no ambiente econômico, se o próximo governo permitirá inflação mais alta ou aumento das despesas, se olhará mais para mercado de trabalho e crescimento econômico ou mais para inflação e metas.” Ele argumenta que temas como inflação e emprego preocupam mais estratos mais sensíveis a preços, porque mexem com o poder de compra. Os mais ricos, por sua vez, conseguem se defender melhor da alta dos preços e das incertezas do mercado de trabalho, com participação [que têm] no mercado financeiro, com aplicações atreladas a inflação e alta de juros. Ainda que o levantamento tenha buscado desmembrar as respostas, elas não são independentes, afirma Simão Silber, economista da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Artuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP). “Quando se fala de inflação e política macroeconômica, as coisas estão interligadas.” Silber argumenta que o momento embute uma piora significativa do padrão de vida das pessoas, em especial dos mais pobres. “[Mas,] por razões diferentes, tanto o pobre quanto o rico estão preocupados com o governo”, afirma. “As pessoas mais ricas estão mais preocupadas com a política econômica porque são as que mais têm a perder, do ponto de vista de propriedade. Para o pobre, falar de imposto sobre riqueza é vendeta. Para o rico, não”, acrescenta. O aposentado Carlos Alberto Custódio, de 76 anos, se diz extremamente preocupado com a política macroeconômica do governo atual e do próximo. “A situação não está muito boa. Está bem ruim, na verdade. A inflação pega a gente e, quando está alta desse jeito [como agora], prejudica muito os negócios das empresas e o mercado de ações”, diz. Nos últimos dois anos, Custódio viu o que tinha investido no mercado financeiro encolher 30%, de R$ 900 mil para R$ 600 mil. “Acabei aplicando meio que especulando um pouco e dancei. Perdi uma bela grana”, conta sobre os investimentos em renda variável que ainda tem. “Com a pandemia, a bolsa desceu entre 30%
Brasil vai para eleições com desemprego menor e dobro da inflação de 2018

Número de vagas de trabalho aumentou, mas renda média encolheu com pressão inflacionária Leonardo VieceliDouglas GavrasRIO DE JANEIRO E SÃO PAULO O Brasil caminha para a eleição presidencial de outubro com desemprego menor e mais vagas de trabalho do que em 2018, quando ocorreu a última disputa nas urnas. A inflação acumulada, porém, dobrou desde então, e a renda real do trabalho encolheu em meio aos impactos da pandemia. Essa combinação, dizem analistas, joga contra a percepção de aquecimento da atividade econômica para uma parcela considerável da população. Movimentação em lojas da região da 25 de Março, em São Paulo – Rivaldo Gomes – 1°.set.2022/Folhapress Comparar a economia brasileira às vésperas do pleito de 2018 com o momento atual é como observar uma montanha-russa de expectativas, avalia Cosmo Donato, economista-sênior da LCA Consultores. Há quatro anos, diz, as perspectivas eram de previsibilidade fiscal, após a aprovação do teto de gastos, o andamento da reforma da Previdência e de uma possível discussão da reforma tributária. “Estávamos caminhando para a normalidade, colhendo frutos das reformas que foram feitas e com expectativa de fazermos mais, mas o ambiente mudou completamente. Tivemos uma pandemia nesse caminho e, em termos de fundamentos, estamos em um cenário mais desafiador. Só que a lupa do curto prazo traz boas notícias, sobretudo pelo fim das restrições sanitárias e o impulso fiscal e social”, resume. No trimestre até julho deste ano, o mais recente com dados disponíveis, a taxa de desemprego recuou para 9,1% no Brasil, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador estava em 12,4% em igual período de 2018 (3,3 pontos percentuais acima). O número de desempregados –pessoas sem trabalho e à procura de vagas– diminuiu em cerca de 3,2 milhões nesse intervalo. Passou de 13,1 milhões no trimestre até julho de 2018 para 9,9 milhões em igual período de 2022. O número de ocupados com algum tipo de trabalho, por sua vez, teve acréscimo de 6,8 milhões, passando de 91,9 milhões para 98,7 milhões. O nível mais recente é o maior da série histórica iniciada em 2012, de acordo com o IBGE. A inflação, por outro lado, passou a incomodar mais o bolso dos brasileiros. Nos 12 meses até agosto de 2022, intervalo mais recente com dados disponíveis, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulou alta de 8,73%. Em igual período de 2018, o avanço era de 4,19%. Ou seja, menos da metade. De acordo com economistas, a inflação ganhou força com os efeitos da pandemia, que impactou a oferta e os preços de insumos, e da Guerra da Ucrânia, que elevou as cotações de commodities. No Brasil, esses fatores foram potencializados pela alta do dólar, que subiu em meio a turbulências protagonizadas pelo governo Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Em parte, a inflação foi responsável por encurtar a renda média do trabalho no país, aponta o economista Vitor Hugo Miro, professor do Departamento de Economia Agrícola e coordenador do Laboratório de Estudos da Pobreza na UFC (Universidade Federal do Ceará). No trimestre até julho de 2022, o rendimento habitual, em termos reais, foi de R$ 2.693. A marca é 3,8% menor do que a de igual trimestre de 2018 (R$ 2.798). Na prática, é como se R$ 105 deixassem de ir, em média, para o bolso do trabalhador ocupado. Os R$ 2.693 representam o segundo menor valor para o trimestre até julho na série histórica, conforme o IBGE. Só superam a renda registrada no mesmo intervalo de 2012 (R$ 2.685). Os cálculos envolvem apenas os recursos obtidos com o trabalho. Transferências de programas sociais, por exemplo, não entram nas contas. “Tem o componente dos salários, de postos de trabalho que estão sendo gerados com salários mais baixos, e a questão inflacionária, que vem corroendo o poder de compra. Esse cenário explica a renda mais baixa”, diz Miro. Em relação ao trimestre imediatamente anterior (fevereiro a abril), o rendimento médio até subiu 2,9% em julho deste ano. Foi a primeira alta significativa em dois anos, segundo o IBGE. “Um fator positivo deste momento pré-eleitoral é que o rendimento médio do trabalho está crescendo. Ainda não chegamos aos níveis de quatro anos atrás, mas não deixa de ser uma surpresa”, diz Hélio Zylberstajn, professor sênior da FEA/USP e coordenador do Projeto Salariômetro, da Fipe. Ainda assim, ele reconhece que o eleitor médio não sente essa melhora, sobretudo pela inflação maior em 2022. “A alta de preços corrói o poder de compra do salário. Se olharmos para as negociações coletivas, os trabalhadores não estão conseguindo ganhar da inflação —alguns só conseguem empatar com ela. Quando se vai ao supermercado, tudo ainda parece caro demais. Mais emprego não significa mais satisfação.” ECONOMIA ‘POLARIZADA’, DIZ ANALISTA Na visão da Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), o cenário às vésperas da nova eleição é de uma economia “polarizada”, a exemplo do que ocorre na política. Segundo a economista, o país conseguiu avanços nos últimos anos em áreas como concessões e marcos regulatórios. Contudo, indicadores como renda fragilizada e endividamento das famílias formam o “lado triste” da história, diz Matos. Em agosto, o endividamento bateu recorde ao alcançar 79% dos lares do país, conforme a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). A série histórica teve início em 2010. “Avançamos em alguns pontos, mas ainda falta bastante para uma economia mais sustentável. Várias reformas não foram continuadas, tem a questão da desigualdade social. Com a pandemia, os mais pobres sofreram mais, não só em termos de renda, mas também em educação”, avalia Matos. Para ela, um dos desafios do país em 2023 será conciliar medidas de auxílio a camadas mais vulneráveis e uma agenda de reformas e responsabilidade fiscal. “A gente sabe que este é um momento que demanda atuação do Estado, que precisa ao mesmo tempo ser reformista. A questão é combinar tudo”, afirma. A economista Margarida Gutierrez, professora do Coppead/UFRJ (Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro), também chama atenção para esse ponto. “O principal desafio de curtíssimo prazo é equacionar programas sociais com a sustentabilidade da dívida/PIB”, aponta. “Não dá para
Fatia de trabalhadores disponíveis ‘encolhe’ depois da pandemia

Auxílio Brasil pode explicar por que população empregada ou em busca de trabalho não está no nível de 2019 Por Lucianne Carneiro O mercado de trabalho dá sinais de recuperação, com avanço da população ocupada e queda de desempregados. Esses números estão em situação melhor que antes da pandemia, ainda que acompanhados de elevada informalidade e renda abaixo de 2021. Um indicador que ainda não se recuperou, porém, é a chamada taxa de participação, que mede a parcela da população em idade de trabalhar que está empregada ou procurando trabalho. A taxa caiu muito no início da crise sanitária e vem crescendo, mas ainda está em 62,7% no trimestre encerrado em julho, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Na média de 2017 a 2019, era de 63,4% e estava em 63,6% no quarto trimestre de 2019. Para explicar esse movimento, especialistas afirmam que nem toda a população que deixou a força de trabalho em 2020 por causa da situação sanitária retornou. O contingente de pessoas nesta situação estava em 64,6 milhões no trimestre encerrado em julho de 2022. O número ainda é maior que antes da crise sanitária (era de 61,5 milhões no quarto trimestre de 2019), mas representa forte queda frente ao pico de 73,6 milhões registrado no trimestre de maio a julho de 2020. Na lista de possíveis influências para que parte das pessoas permaneça fora da força de trabalho, especialistas apontam o aumento do valor do Auxílio Brasil – que foi elevado no fim de 2021 em relação ao que era pago pelo Bolsa Família -, a perda de experiência de trabalhadores e alguma mudança na estrutura do mercado de trabalho no pós-pandemia e nas decisões das famílias em relação à oferta de trabalho. Além disso, lembram que, por causa do perfil desta crise, muitos dos trabalhadores ocupados passaram diretamente para a inatividade. “A população fora da força de trabalho caiu 9 milhões desde o auge em 2020, mas ainda está um pouco alta. Isso explica parte da queda do desemprego, pois ainda tem muita gente que não voltou ao mercado de trabalho. Tem gente que saiu e vai voltar, mas tem quem jamais vai voltar. Há pessoas que não voltam porque ficaram mais velhas, porque perderam experiência, ficaram defasadas, o mercado está demandando outras coisas… Acreditam que não terão condições de conseguir ocupação no mercado”, diz o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), João Saboia. Ele explica que o indicador de taxa de participação engloba, no mesmo numerador, tanto os trabalhadores ocupados quanto os desocupados. Enquanto a ocupação avançou em 16 milhões de pessoas entre o fundo do poço e agora, nota o professor, há 5 milhões de desempregados a menos. “A taxa pode variar pelo número positivo, que é de ocupados, ou negativo, que é o de desocupados. É preciso cuidado. Vale olhar, por exemplo, para o nível de ocupação, que é o mais alto desde 2015 [57%]”, afirma. Estudo do pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) Daniel Duque sugere que o aumento do Auxílio Brasil contribuiu para a recuperação mais lenta da taxa de participação. O trabalho considera 73 regiões do país, a partir de microdados da Pnad Contínua, e mostra que os locais com maior aumento de recursos provenientes do Auxílio Brasil também foram as que tiveram menor aumento na taxa de participação, na comparação entre o quarto trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022. Não inclui, portanto, o novo aumento do valor do benefício, para R$ 600 em agosto. “Muitos países já tiveram reversão dessa taxa de participação [frente ao pré-pandemia], como os Estados Unidos. O Brasil está entre os que não recuperaram. Ao mesmo tempo, as transferências de renda no país estão em nível maior agora. Motivado por esses dois fatos, fui atrás dos dados e encontrei que as transferências de renda tiveram papel nisso”, diz Duque. Ele esclarece que o estudo não busca explicar o comportamento da taxa de participação na íntegra. O Auxílio Brasil começou em novembro de 2021 substituindo o Bolsa Família no valor de R$ 200, mas em dezembro foi a R$ 400. Também cresceu o número de famílias – eram 14,5 milhões em dezembro e passaram a 17,5 milhões em janeiro e 18 milhões em fevereiro. Houve mudança também no desenho do programa, que destina valor fixo por família, diferentemente do Bolsa Família. Ao avaliar a população que está fora do mercado de trabalho, Duque aponta que o maior contingente está quem é mais jovem (14 a 29 anos) e quem não é chefe de famílias. “O aumento do Auxílio Brasil desestimulou a busca por trabalho, mas isso se dá principalmente nesses grupos, com salários muito baixos e condições de trabalho ruins”, afirma Duque. Economista da Tendências Consultoria, Lucas Assis compartilha da avaliação de que há influência das transferências de renda para a busca por ocupação, mas cita também o perfil desta crise como outro fator para o que chama de recomposição tardia da população economicamente ativa. “Não só o valor do Auxílio Brasil é maior que o do Bolsa Família, como foi ampliado o número de famílias atendidas. Isso funciona como um desincentivo à busca por uma ocupação. Além disso, na pandemia, a gente teve transição direta de trabalhadores ocupados para a inatividade. Isso retardou a recomposição da população economicamente ativa”, diz. A professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Liana Carleial é cautelosa ao avaliar a influência das transferências de renda nas buscas por trabalho por considerar que “o Bolsa Família nunca foi contraponto ao mercado de trabalho”. Sua análise é que o mercado de trabalho pode ter passado por mudanças em sua estrutura durante a pandemia. Uma das hipóteses é que haja uma espécie de “desemprego disfarçado”, já que o conceito de desempregado pressupõe busca por trabalho. Outra questão que pode afetar, argumenta, é o que chama de “socialização do custo da reprodução na família”, ou a decisão de quem se responsabiliza pelos cuidados de crianças e
Política de cotas diminui diferença na qualificação, mas não na taxa de desemprego; entenda
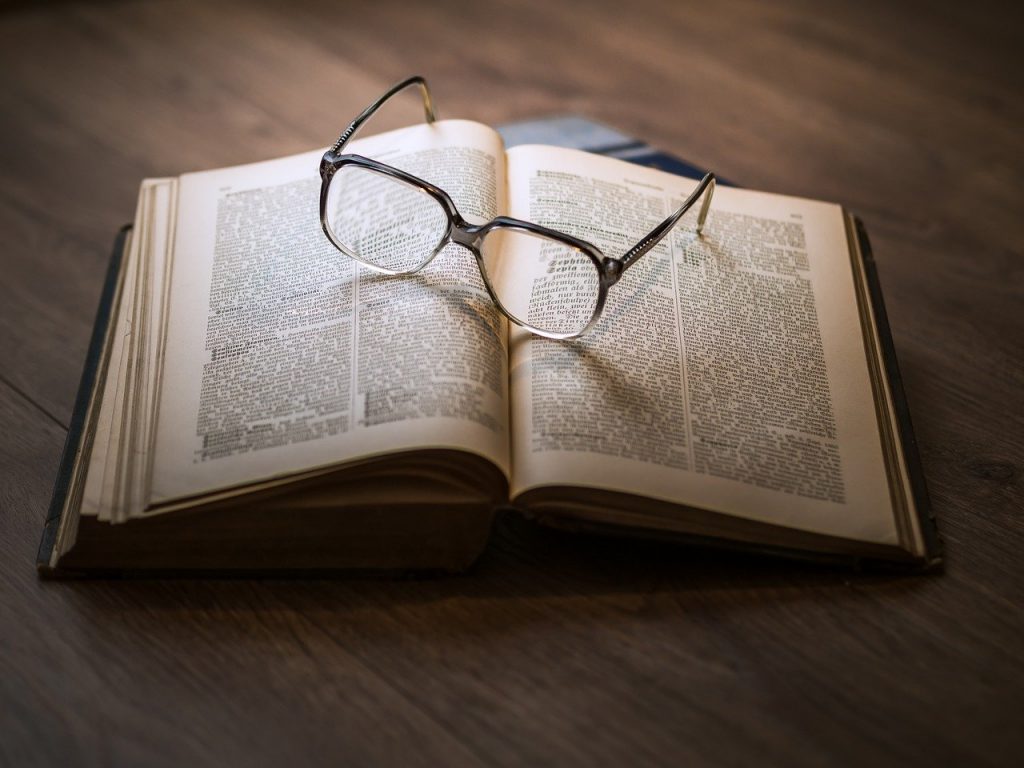
Segundo um levantamento do IDados, a diferença na qualificação, medida pelos anos de estudos, entre brancos e negros, diminuiu em dez anos. No entanto, as oportunidades no mercado de trabalho entre os dois grupos não se aproximaram. Por Jornal da Globo Um levantamento feito pela Consultoria IDados mostra a presença de mais jovens cotistas na universidade – a diferença na qualificação, medida pelos anos de estudos, entre brancos e negros, diminuiu em dez anos. No entanto, as oportunidades no mercado de trabalho entre os dois grupos não se aproximaram. Em 2012, a taxa de desemprego para os brancos era de 5,8% e dos negros de 8,4%. Agora, a taxa de desocupação está em 7,1% entre os brancos, e 10,4% para os negros, significando uma desigualdade maior, de 3,4%. “Essa pesquisa mostra uma persistência na discriminação racial no mercado de trabalho brasileiro. A gente esperava que, com a redução da fonte de desigualdade que era essa diferença de qualificação, houvesse uma aproximação da taxa de desemprego dos dois grupos, porque eles se tornaram mais parecidos. Só que, apesar disso, não foi o que aconteceu de fato”, explica Ana Tereza Pires, pesquisadora do IDados. O levantamento começou em 2012, quando a Lei de Cotas foi sancionada no Brasil. A medida garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservada para estudantes de escolas públicas, de baixa renda, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Patrícia Santos, fundadora da EmpregueAfro – consultoria de RH com foco em diversidade étnico-racial – diz que inclusão significa mais do que apenas preencher vagas. “Eu costumo falar para as empresas que o desafio da diversidade da inclusão não termina na contratação. Pelo contrário. Depois que as pessoas começam a trabalhar, é que a empresa precisa acompanhar o desenvolvimento, a performance, a entrega e evitar situações de preconceito e discriminação que muitas vezes acontece”, afirma Patrícia. https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2022/09/20/politica-de-cotas-diminui-diferenca-na-qualificacao-mas-nao-na-taxa-de-desemprego-entenda.ghtml
Força de trabalho ainda está abaixo do pré-covid

Especialistas afirmam que nem toda a população que deixou a força de trabalho em 2020 por causa da situação sanitária retornou Por Lucianne Carneiro Apesar da redução do desemprego nos últimos meses, ainda há uma grande fatia da população fora da força de trabalho. Após o choque inicial da pandemia, a chamada “taxa de participação” – que mede a parcela da população em idade de trabalhar que está empregada ou procurando trabalho – não se recuperou. O indicador caiu muito em 2020, voltou a avançar, mas ainda está em 62,7%, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua relativa ao 2º trimestre. Entre 2017 e 2019, o percentual era de 63,4%. Fatia de trabalhadores disponíveis ‘encolhe’ depois da pandemia De acordo com economistas que acompanham o mercado de trabalho, nem toda a população que deixou a força de trabalho em 2020 por causa da crise sanitária já retornou. O contingente de pessoas nesta situação estava em 64,6 milhões no 2º trimestre deste ano. O número é maior que antes da pandemia (61,5 milhões no 4º trimestre de 2019), embora represente forte queda frente ao pico de 73,6 milhões registrado no trimestre de maio a julho de 2020. Entre as explicações para que essa parcela da população continue fora da força de trabalho estão o aumento do valor do Auxílio Brasil (elevado no fim de 2021 em relação ao que era pago no Bolsa Família), a perda de experiência por trabalhadores desempregados há mais tempo e também mudanças estruturais no mercado de trabalho no pós-pandemia. “A população fora da força de trabalho diminuiu em 9 milhões desde o auge, em 2020, mas ainda está um pouco alta. Isso explica parte da queda do desemprego, pois ainda tem muita gente que não voltou ao mercado de trabalho”, diz João Saboia, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Tem gente que saiu e vai voltar, mas tem quem jamais voltará. Seja porque ficaram mais velhas ou ficaram defasadas e acreditam que não terão condições de conseguir ocupação.” https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/09/20/forca-de-trabalho-ainda-esta-abaixo-do-pre-covid.ghtml
